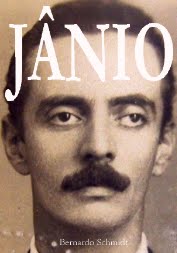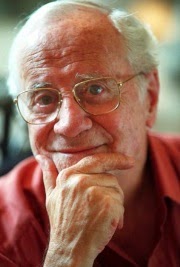Anna já não era mais uma caloura. O público inglês não esquecia sua lésbica-mirim em Brookside mas sabia que existia muito mais para ser explorado. Ela já sentira a vergasta do fracasso algumas vezes e parecia mais madura. “Você tem que se responsabilizar pela sua própria reputação”, disse ela, na época. “Não quero ser apenas um enfeite e fazer Pânico 3 e coisas adolescentes. Quero ser uma atriz melhor, alguém que estará por aqui durante algum tempo”. Para tanto era necessário superar preterições inexplicáveis e injustas, esquecer desastres como Mad Cows – que parte do elenco já vinha renegando e do qual procurava dissociar-se completamente – e concentrar-se em trabalhos que tiveram uma repercussão positiva, como Our Mutual Friend e Me Without You. O problema da atriz era o timing. Para cada trabalho bem recebido vinham dois ou três esquecíveis e ela voltava à estaca zero. Como já se viu antes, de vez em quando a culpa não era só dela; projetos que vinham cobertos de boas expectativas acabavam tropeçando em algum tipo de rejeição que podia ou não ter a ver com o aspecto artístico. Durante o primeiro lustro do novo século isso ocorreria repetidas vezes. Distribuições falhas, questiúnculas regionais e até problemas ideológicos. A micro-série Fields of Gold, seu primeiro projeto na BBC desde Our Mutual Friend, quatro anos antes, reuniria todos esses percalços.
Fields of Gold (2002)
Ainda não consegui adquirir este filme. Se alguém tiver uma cópia, me avise. E assim que assistir, acrescentarei aqui o comentário.
Watermelon (2003)
Parece brincadeira mas em uma matéria do jornal inglês The Independent sobre os dez anos de carreira de Anna, em 2003, o jornalista encerrou o texto afirmando que “os próximos três anos da vida de Friel podem muito bem determinar o que ela fará pelas próximas três décadas”. Previsão aziaga. Porque os três anos seguintes foram justamente os piores de toda a carreira dela.
Evaporado o sucesso de Me Without You pela implosão de Fields of Gold, restou a Anna o convite dos canais ITV e Granada para protagonizar uma comédia romântica baseada no livro Watermelon (“Melancia”), da irlandesa Marian Keyes. O romance – uma idiotice inqualificável lançada em 1995 – alcançou inesperado sucesso entre as adolescentes e mulheres de meia-idade, e tem o mérito altamente questionável de ser um dos pioneiros do estilo chick-lit, em que autoras na faixa dos 40 escrevem com a maturidade dos 16 para falar sobre o que não fizeram aos 25. As heroínas são sempre mulheres lindas, inteligentes e espirituosas, que sofrem nas mãos impiedosas dos homens até que encontram um príncipe encantado que tanto merecem. Uma leitura perfunctória é o suficiente para ver que essas heroínas são na verdade mulherzinhas mimadas, fúteis e egocentristas, que nada tem na cabeça a não ser a necessidade de expiar as frustrações sexuais e realizar as fantasias de “amor romântico” da autora. Watermelon não tem qualquer originalidade, e sua trama é um amontoado interminável dos piores clichês, do humor mais cretino e infantil, apinhado de palavrões e vulgaridades e tudo numa diarréia verbal repetitiva ao extremo, sem qualquer graça ou profundidade.

No livro, a irlandesa Claire tem 29 anos, mora em Londres com o marido James e acabou de dar à luz sua primeira filha. Está no hospital e enquanto se recupera, seu marido entra no quarto e anuncia que vai deixá-la para viver com a vizinha, com quem já tem um caso há meses. Arrasada, abandonada e com o corpo arredondado pela gravidez (no formato de uma melancia, razão para o título boçal), ela volta para a casa dos pais em Dublin, onde passa a morar com eles e com as duas irmãs, Anna e Helen. Fica deprimida durante dias, sem qualquer auto-estima, bebe demais e inferniza a família até seu pai ter uma conversa séria com ela. A irmã Helen apresenta-lhe seu amigo Adam, o príncipe encantado, que salva Claire da depressão. Quando começa a se envolver com Adam, James aparece em Dublin e propõe que os dois voltem, desde que ela mude e deixe de ser tão imatura. A princípio Claire, pensando na filha, aceita a proposta, o que enfurece Adam e o faz terminar tudo com ela. James volta a Londres para aguardar Claire e a filha, mas numa seqüência de telefonemas ao sócio de James e a uma amiga, Claire descobre que James a manipulou com chantagem emocional, e que não era ela, e sim James, o culpado pelo fim do casamento. Ela então decide voltar a Londres, mas não para morar com o marido, e sim para encerrar de vez o casamento e começar uma nova vida por lá. Tempos depois, em uma visita a Dublin, Claire encontra-se com Adam, que confessa ter uma filha de um relacionamento anterior e que pretende morar em Londres com essa filha, o que sinaliza a reconciliação dos dois na Inglaterra e um final feliz.

Diante de algo tão piegas, tão tolo e tão previsível, é de se louvar a iniciativa do roteirista Colin Bateman, que simplesmente ignorou a gemebunda e choramingosa linha mestra do livro e escreveu uma história totalmente diferente, mantendo apenas alguns nomes e locais. Claire (Anna) agora tem em torno de 21 anos – idade muito mais coerente com a sucessão de draminhas babacas e colegiais pelos quais passa – e acaba de se formar na faculdade, em Dublin. Tem um namorado chamado Adam (Ciarán McMenamin), a quem convence a ir com ela para Londres, sob o (falso) pretexto de que já tem um emprego engatilhado por lá. O que Claire tem, na verdade, é simplesmente uma entrevista de emprego, à qual ela comparece no dia seguinte. Nervosíssima, tem um desarranjo estomacal que a faz vomitar no meio do shopping onde fica o escritório. Perde a vaga, evidentemente, e pouco depois, em um restaurante, confessa a Adam que tudo era mentira. O namorado fica indignado e volta para Dublin sozinho. Claire fica no restaurante alguns segundos e quando decide sair correndo atrás de Adam, tromba com James (Jamie Draven), que estava presente na malfadada entrevista ocorrida horas antes.
 |
A hilária entrevista que começa bem e termina com o vômito
de Anna no meio de um shopping |

(spoilers) James trabalha na empresa e oferece um cargo menor a Claire, para que ela não perca a viagem. Ela resolve então ficar na Inglaterra, rola um clima imediato entre os dois, eles começam a sair e semanas depois Claire descobre que está grávida. O problema é que um cálculo rápido é suficiente para constatar que o bebê era de Adam, e não de James. Disposta a contar tudo ao novo namorado, ela fica muda na hora H e James acaba pensando que o bebê é dele. Sem coragem para derrubar James das alturas, na alegria suprema em que se encontra, ela segue em frente com a mentira. O casal vive em perfeita harmonia durante a gravidez, mas o parto de sete meses faz com que James descubra que Claire já estava grávida há dois, quando se conheceram, e que a criança não é, de fato, dele. Ainda no hospital, James termina o relacionamento. Claire então retorna a Dublin para morar com os pais e com a única irmã, Anna (Elaine Cassidy), que nada tem de ocultista. Nenhuma das outras baboseiras do livro é aproveitada. Ela tem um período curto de tristeza, mas se recupera. Liga, então, para Adam e comunica a ele que os dois têm uma filha. Ele fica chocado a princípio mas depois absorve a idéia e tenta uma reconciliação com Claire.
 |
| Jamie Draven (acima) e Ciarán McMenamin |
Enquanto isso James tenta namorar uma das executivas de seu trabalho, em Londres, mas tudo dá errado e ele vai a Dublin para reconquistar Claire. Encontra-a em um restaurante com Adam, os dois brigam e James vai embora. Claire termina tudo amistosamente com Adam e vai atrás de James no aeroporto de Dublin, onde os dois acabam se acertando e o final é feliz.
 Anna e Brenda Fricker
Anna e Brenda Fricker
O filme é bobinho, totalmente “sessão da tarde”, mas não se pode negar o mérito de ter consertado muito da estrutura anêmica do livro, e enxugado, em seus 70 dinâmicos minutos de duração, toda a blablação inútil, desagradável e cansativa de Keyes. Além disso, Watermelon tem a extraordinária vantagem de ser um veículo para Anna, que está linda, divertida, com um sotaque irlandês hilário e está em praticamente todas as cenas, o que faz do filme um passatempo acima da média. Há também o reencontro com Brenda Fricker (com quem Anna já trabalhara em War Bride), agora no papel de Teresa, mãe de Claire. Outra é o fato de Anna, na época com 27 anos, sardenta e extremamente ruiva, estar parecendo uma espécie de versão melhorada, mais bonita e talentosa, de Lindsay Lohan. O filme, dirigido pelo desconhecido Kieron Walsh, foi ao ar pela TV inglesa em abril de 2003. As reações, como já se imaginava, foram mistas. Fãs do livro odiaram, fãs de Anna acharam que aquilo era pouco para ela. Cômico mesmo é o comentário de um sujeito no IMDB, dizendo que “o sotaque Oirish de Friel é passável, e, claro, ela tira a roupa”. Essa tal fama não seria perdida jamais.
No link a seguir vai Watermelon na íntegra. (Trata-se de uma cópia em baixa resolução e quem deseja ver o filme evidentemente deve comprá-lo)
Timeline (2003)
O norte-americano Michael Crichton (1942/2008) era indiscutivelmente um gênio do romance e nos anos que vão de 1987 até 1995 ele emplacou cinco best-sellers que mais tarde se tornaram sucessos no cinema: Sphere, Jurassic Park, Rising Sun, Disclosure e The Lost World. Em 1999 ele lançou o romance Timeline, sobre uma equipe de arqueólogos que faz uma escavação na França em busca de informações a respeito de uma batalha ocorrida no século XIV, em Castlegard e La Roque. Quando o chefe da equipe vai até a empresa que financia a escavação e desaparece misteriosamente, descobre-se que a empresa não é meramente a patrocinadora do projeto, mas um laboratório que faz experiências com teleportação quântica e que sem querer descobriu um buraco negro que permite o envio de seres humanos à França de 1357, ano em que ocorreu a batalha que a equipe vem pesquisando. A equipe então exige ser mandada para o mesmo local do professor, a fim de resgatá-lo.
Michael Crichton e Richard Donner
A crítica não poupou elogios para Timeline, ao qual definiu como entretenimento de primeira, sobretudo para os jovens. O diretor Richard Donner, respeitadíssimo em Hollywood por seus mais de 40 anos de carreira e sucessos inigualáveis como A Profecia, Super-Homem, Ladyhawk, Goonies e Máquina Mortífera, já havia entrado na disputa por quem dirigiria Jurassic Park, mas perdeu a concorrência para Spielberg. Em 2002 ele solapou os direitos de Timeline. Para transformar o livro de Crichton em roteiro ele chamou o competente Jeff Maguire, famoso pelo roteiro original de In the line of fire, e o novato George Nolfi. Para a trilha sonora Donner escalou o velho Jerry Goldsmith, um dos maiores compositores de Hollywood. Um orçamento de 80 milhões de dólares foi levantado, locações foram escolhidas em Los Angeles e Quebec, e até aquele momento a produção parecia das mais auspiciosas.
 |
Em sentido horário: Gerard Butler, Paul Walker,
Billy Conolly e Frances O'Connor |
Só que na hora de escolher os atores e atrizes, Donner estragou tudo. O elenco de Timeline faz lembrar a tendência das minisséries e novelas brasileiras desde meados da década de 90, em que as nulidades recebem os papéis principais e os competentes ficam na coadjuvância. Confiando em seu tino pregresso para reunir talentos jovens e promissores, Donner entregou o papel protagonista ao escocês Gerard Butler, antes da tonelada de anabolizantes que ele tomou para fazer o dantesco 300, mas já célebre por sua dicção horrorosa e seu ininteligível sotaque escocês. Como se não bastasse, o outro protagonista escolhido foi um dos mais abomináveis canastrões de Hollywood, um tal de Paul Walker, que dois anos antes participara de um lixo chamado Velozes e Furiosos, sucesso entre mulheres e amantes de automóveis. Pelo lado feminino, a situação não melhora em nada; a protagonista é a medíocre Frances O’Connor, que dois anos antes tivera o único papel de destaque em sua carreira, antes ou depois, como a “mãe” de Haley Joel Osment no tristíssimo Inteligência Artificial, de Spielberg.
 |
Em sentido horário, David Thewlis, Matt Craven,
Michael Sheen e Neal McDonough |
O elenco coadjuvante, paradoxalmente, tem nomes que merecem destaque. O professor que fica preso no passado é o carismático escocês Billy Conolly, que já trabalhara com Gerard Butler no magnífico Mrs. Brown e com Anna no deprimente An Everlasting Piece. Os cientistas inescrupulosos que lidam com a teleportação são representados pelo inglês David Thewlis – de carreira irregular e esquecível, e hoje conhecido apenas por seu papel de Remus Lupin nos filmes de Harry Potter – Matt Craven e Neal McDonough. No núcleo francês de 1357 não se pode deixar de citar o inglês Michael Sheen, atualmente ator do primeiro time britânico e que guarda a curiosidade de ter participado tanto dos filmes da série Underworld quanto da série Twilight. Seu rival no cerco a Castlegard é interpretado pelo francês Lambert Wilson, que no mesmo ano participaria dos dois últimos filmes da série Matrix no papel do divertido e odioso Merovíngio. E por fim, Anna, em coadjuvância de luxo, no papel da Lady Claire, mártir da vitória francesa na batalha.
 |
| Anna e o "merovíngio" Lambert Wilson |
Na trama, o Professor Edward Johnston (Conolly) lidera uma equipe que conta com os arqueólogos Andre Marek (Butler), Kate Ericson (O’Connor) e outros. Johnston desaparece depois de uma visita aos responsáveis pela ITC (International Technology Corporation), empresa que financia a escavação, Robert Doniger (Thewlis) e Steven Kramer (Matt Craven). O filho de Johnston, Chris (Walker), que é apaixonado por Kate, pede satisfações à empresa e ameaça fazer uma queixa de seqüestro caso não seja informado sobre o destino de seu pai. Doniger e Kramer resolvem, então, abrir o jogo e explicar que haviam aperfeiçoado uma máquina capaz de reduzir um ser humano a elétrons e teleportá-lo, mas no processo haviam se conectado acidentalmente a um buraco negro que levava os objetos ou pessoas teleportadas para a França de 1357, razão pela qual a empresa vinha financiando aquela escavação. Johnston descobriu o segredo e insistiu que a empresa o teleportasse, mas perdeu contato com os cientistas da ITC. Marek, Kate e Chris resolvem ir para 1357 trazer Johnston de volta e para tanto são acompanhados por Frank Gordon (McDonough) e mais dois funcionários da empresa. O resgate, entretanto, não poderia durar mais do que seis horas, ao fim dos quais, o transmissor que permitia a volta do grupo deixava de funcionar.

 |
| Anna e Gerad Butler |
(spoilers) Eles chegam à França no dia exato em que ocorre a batalha de Castlegard e logo de cara os ingleses matam os dois funcionários que estavam com eles. Atingido por várias flechas, um dos funcionários ativa seu transmissor para poder voltar, ao mesmo tempo em que aciona uma granada de mão, arma moderna que ele estava proibido de carregar para o passado. O resultado é que a granada estoura quando ele já regressou ao presente e destrói a máquina do tempo, deixando Kramer e Doniger com a ingente tarefa de ter que consertá-la em menos de cinco horas. Em meio ao cerco tanto dos ingleses, liderados pelo Lord Oliver (Sheen) quanto dos franceses, liderados pelo Lord Arnaut (Lambert), Chris, Marek, Kate e Gordon vão lutando para encontrar Johnston, que esta preso e só não foi morto pelos homens de Oliver porque lhes prometeu um explosivo capaz de aniquilar o exército francês. É quando Marek acidentalmente conhece a corajosa Lady Claire, irmã de Arnaut. Segundo a história (toda fictícia, exceto pelo fato de se passar na mesma época da Guerra dos Cem Anos), os ingleses ameaçavam enforcar Claire caso os franceses não se rendessem. Estes não aceitaram a ameaça e Claire foi enforcada e pendurada nas muralhas do castelo. Só que ao invés de arrasar o moral dos franceses, a morte insidiosa de Claire deu-lhes fôlego redobrado e eles venceram os ingleses. Apaixonado por Claire e vendo que a paixão é correspondida, Marek decide mudar o curso da história, arriscando sua vida para salvar Claire.
 |
| Gerard e Anna |
Terminada a produção, Richard Donner começou a enfrentar problemas com o estúdio. A estréia estava prevista para abril de 2003, mas houve algumas sessões fechadas de Timeline para testar o público e a reação não foi das mais positivas. O chefe da Paramount, Sherry Lansing, fez Donner reeditar o filme, o que o obrigou não apenas a cortar uma introdução feita por Billy Conolly, onde este contava detalhes do livro que ocorriam antes da trama do filme, mas também forçava Jerry Goldsmith a orquestrar e sincronizar a trilha com a nova edição. Feitos os ajustes, Lansing ainda não se deu por satisfeito, o que levou Donner a uma terceira edição. Só que desta vez Jerry Goldsmith já não pôde mais reescrever sua trilha, pois além de estar rapidamente sucumbindo ao câncer (morreu em julho de 2004), ele já estava comprometido com a trilha sonora de Looney Tunes – Back into Action, da Warner. No fim, vinte minutos foram cortados, foram para o lixo tanto a introdução de Conolly quanto o desfecho da trama de David Thewlis, e quem acabou assinando a trilha sonora foi Brian Tyler.

Não é de se admirar que com uma pós-produção tão acidentada, Timeline tenha sido um desastre de bilheteria quando estreou, em novembro de 2003, não arrecadando (até fevereiro de 2004, segundo dados dos IMDB) nem ¼ de seu orçamento. Richard Donner acusou o golpe. Ele vinha do insípido Teoria da Conspiração, de 97, e o decepcionante Máquina Mortífera IV, de 98. Não fazia filmes há cinco anos. Timeline era sua chance de voltar por cima, o que infelizmente não aconteceu. Seu único filme depois disso foi um policial que passou em brancas nuvens, chamado 16 Blocks, de 2006, com Bruce Willis. Desde então ele não dirigiu mais. Está hoje com 80 anos.

Nunca ouvi uma única crítica positiva a este filme. Mesmo os fãs mais ardorosos de Anna concordam que se trata de um filme bobo, sem pé nem cabeça. E é justamente por ter adotado sempre uma postura completamente fria e crítica em relação a seus filmes que me sinto obrigado a dizer que não achei tão ruim. Sim, Paul Walker é um traste detestável, Frances O’Connor é tão empolgante quanto uma maçaneta, e pouco se entende do que sai da boca torta de Gerard Butler; o roteiro, que já não era nenhuma maravilha, deixa entrever que foi mutilado e as soluções são todas instantâneas, sem maior detalhamento; Anna, por sua vez, está linda embora algo perdida. A francesa Claire tem meia dúzia de falas o filme inteiro e Anna até que não compromete com seu divertido sotaque. Parece mesmo uma francesinha. Não precisava, no entanto, repetir o erro de Rogue Trader e falar com a voz esganiçada, à semelhança de uma corneta desafinada ou uma menina de nove anos. Com tudo isso, e apesar de tudo isso, ainda considero Timeline infinitamente melhor do que An Everlasting Piece e outras tranqueiras que veremos à frente, como Irish Jam, Goal e Niagara Motel. Por respeito a Donner e a Michael Crichton, eu diria que Timeline era um boa idéia que tropeçou no elenco principal, no roteiro fraco e na interferência indevida do estúdio.
A nível pessoal, vale ressaltar que embora não tivessem cenas juntos, foi na produção deste filme que Anna conheceu David Thewlis. Os dois começaram a namorar e em julho de 2005 Anna deu à luz sua primeira filha, Gracie Ellen Mary.
 |
| Billy Burke, Anna, Jeff Hephner e Shalom Harlow |
The Jury (2004)
É possível que a associação de Anna com Barry Levinson no teratológico An Everlasting Piece a tenha conduzido a seu novo projeto. Barry foi o criador e eventual diretor da série The Jury, transmitida pela Fox em 2004. O seriado nada mais era do que uma espécie de “Você Decide” norte-americano, em que o público ligava para um número de telefone no intervalo anterior ao último bloco e decidia o destino dos personagens. A versão brasileira, que foi ao ar em meados dos anos 90, tinha todos os tipos de situações em que é necessário decidir entre uma coisa ou outra; já The Jury era um court room drama e durante o episódio eram apresentadas as circunstâncias que haviam levado o réu àquela situação. A ação se dividia entre o tribunal, onde se apresentavam provas e testemunhos pró e contra os réus, e a sala dos jurados, em que todos davam suas opiniões.
Uma advogada e seu penteado
Era um seriado bobo e sem qualquer possibilidade de fazer sucesso. A premissa de deixar com o público a responsabilidade pela absolvição ou condenação de um réu é até interessante, assim como as acaloradas discussões na sala dos jurados. Depois do terceiro ou quarto episódio, entretanto, a coisa perdeu completamente o fôlego e começou a se repetir. Anna fazia a advogada de defesa Megan Delaney e não havia no roteiro a menor possibilidade dela variar sua interpretação. Em todos os episódios era a mesma coisa: ela ficava numa queda de braço com o promotor, expondo de maneira agressiva e incisiva a defesa de seu cliente, e no fim mostrava satisfação por sua absolvição, ou frustração por sua condenação. O que mais mudou no período todo foi seu penteado.
Anna no papel de Megan Delaney
O grande Sidney Lumet foi convidado para interpretar o juiz, mas teve um acidente pouco antes e não pôde participar. Levinson foi suficientemente cabotino para escalar a si próprio no papel, pelo que apareceu com sua cara inexpressiva de robô em todos os episódios. The Jury teve dez episódios transmitidos entre junho e agosto de 2004 nos Estados Unidos e foi cancelado. Anna dividia o papel de advogada de defesa com a atriz Shalom Harlow e apareceu em cinco ou seis desses episódios, o que pouco ou nada significou para sua carreira, que estava em um buraco que parecia não ter fundo. Dali em diante as coisas só podiam... piorar.
Perfect Strangers (2004)
Depois do fiasco de The Jury, Anna fez apenas um filme naquele ano. É uma produção para a TV chamada Perfect Strangers, que no Brasil – onde foi lançado diretamente para locação – recebeu o nome de "Estranhos Conhecidos". O roteiro (de Simon Booker) vem de um livro (de Robyn Sisman), mas tanto o autor quanto o roteirista e o diretor (Robin Shepperd) são completamente desconhecidos e não valem nenhum registro. O filme é veículo para Rob Lowe, que vivia um renascimento de sua turbulenta carreira por conta do sucesso estrondoso do seriado The West Wing. A razão pela qual Anna foi chamada para ser a co-estrela eu desconheço, mas Perfect Strangers é uma comédia romântica assistível. Não pelo roteiro – que é fraquíssimo – ou pela direção – que é nenhuma – mas pela simples presença de Anna, e por ela ter a seu lado um verdadeiro leading man. Lowe sempre foi canastrão e limitado, mas pelo menos é carismático. Aliás, perto das criaturas com quem Anna trabalharia a seguir, Rob Lowe chega a assumir ares de Cary Grant. Seja como for, o filme se sustenta única e exclusivamente na imagem de ambos.

O título faz referência à trama, em que dois executivos da área de Publicidade fazem um intercâmbio empresarial e vão morar um no país do outro, e trabalhar no emprego do outro. Anna é a descolada e divertida inglesa que deixa seu modesto cafofo londrino para morar na glamourosa e cosmopolita NY. Lowe, por sua vez, é o americano mauricinho e bitolado que abandona o luxo de seu apartamento nova-iorquino para conviver com o gato, o hamster e as duas galinhas que Anna mantém em sua casa. Os dois se conhecem por telefone, quando Lowe liga para reclamar da baderna na casinha de Anna, e ela reclama das dificuldades que encontra no trabalho dele, em NY. A antipatia inicial vai arrefecendo, eles se tornam amigos e de amigos a cúmplices, quando ela descobre, aos poucos, que há um plano em andamento para que tanto ela quanto Lowe sejam demitidos. A partir daí eles começam a trabalhar juntos para evitar que o plano funcione, e no meio cada um deles vai enfrentando seus próprios problemas, Lowe com sua noiva fria e patricinha, Anna com seu namoradinho americano que ela descobre mais tarde ser casado.

O filme é de uma produtora norte-americana e foi transmitido nos Estados Unidos em outubro de 2004. Pelo que sei, não foi nem transmitido e nem lançado em DVD na Inglaterra, razão pela qual os ingleses mal conhecem este trabalho. Não que estejam perdendo qualquer obra-prima, mas Perfect Strangers serviria como alívio diante dos quatro filmes apavorantes que vieram a seguir.
 Goal! The Dream Begins (2005)
Goal! The Dream Begins (2005)
O filme conta a história de uma criança mexicana que cruza a fronteira para os Estados Unidos com a família, joga num time de várzea, é descoberto e consegue a chance de jogar futebol com um time inglês.
É o melodrama bobo e previsível do sujeito de classe média baixa que corre atrás do sonho de tornar-se uma estrela do esporte, e tem todos os clichês do mundo. O roteirista Mike Jefferies é um ilustre desconhecido e o diretor Danny Cannon fez televisão a vida inteira, sem qualquer trabalho notável em seu currículo. Aliás, existe um trabalho seu que é notável, mas de tão ruim que é: o filme Judge Dread, que o próprio Stallone considera um dos piores de sua vida.
Anna, no papel de Roz Harmison, em Goal!
O protagonista – o mexicano Kuno Becker – é deplorável. Anna tem sua primeira cena depois de 46 minutos de tédio. É a enfermeira Roz Harmison, que cuida de uma das contusões do jogador, e os dois conseqüentemente se apaixonam, no que se copiou de maneira descarada a trama de Tom Cruise e Nicole Kidman no constrangedor Days of Thunder. Ou seja, não foram sequer capazes de copiar um filme bom. Até o fim, as participações dela são poucas, curtas e sem nenhuma graça. É uma produção anglo-americana que estreou Inglaterra em setembro de 2005 e só chegou aos EUA em maio de 2006. Não quebrou um único recorde de público, mas ganhou dinheiro suficiente para que o roteirista espremesse uma segunda parte, dois anos depois. É só o que tenho a dizer sobre esse filme, além do fato evidente de que é um filme para fãs de futebol, e que sua interminável 1 hora e 50 de duração poderia ter sido facilmente encaixada em 80 minutos. Só.
Niagara Motel (2005)
Produção canadense. Baseado em contos de um tal George F. Walker, o roteiro foi escrito por outro desconhecido chamado Dani Romain e a direção é de Gary Yates, relativamente famoso no Canadá, não tendo, porém, absolutamente nada que valha registro em seu currículo. O filme traz a história de dez pessoas que estão no mesmo motel, nas Cataratas do Niagara, atração turística na divisa entre Ontario, no Canadá, e o estado de NY, nos EUA.
O fio da trama é o gerente do motel (o comediante escocês Craig Ferguson – que eu pessoalmente considero infame – e que atualmente tem um talk show na TV americana), constantemente bêbado desde que sua esposa caiu nas cataratas durante a lua de mel. Além dele há o casal de meia-idade em crise, o casal de ex-drogados, o casal de donos do motel e a garçonete grávida que tem que lidar com um admirador idiota e um agente patife que quer contratá-la para fazer filmes pornográficos.

Anna é Denise. Casada com R.J., os dois eram drogados e o rapaz acaba indo em cana. Ela começa a traficar e a se prostituir para sustentar seu vício e a filha dos dois. Como resultado de seu comportamento, a filha acaba sendo levada pelo Serviço de Proteção ao Menor e adotada temporariamente por outra família. É nesse ponto que se inicia sua trama em Niagara Motel: o primeiro encontro do casal, desde que o rapaz saiu da cadeia e os dois largaram o vício, com a assistente social, é na cidade de Niagara Falls, e eles estão no mesmo motel que todos os outros. Anna é basicamente o que se salva dentro de uma produção completamente dispensável e sem razão nenhuma de ser. Sua Denise, ignorante e intratável (a típica white trailer trash americana) é lapidar. O público americano, é lógico, só consegue lembrar-se dela nesse filme pelo elemento "vadia" do personagem, em cenas que mostra o corpo.


Pior do que isso, a bela performance de Anna acabou ofuscada pela personagem Loretta, da desconhecida canadense Caroline Dhavernas, única a receber, ainda que timidamente, algum tipo de aclamação crítica por seu trabalho nesse filme.
Niagara Motel é geralmente classificado como uma "comédia de humor negro", embora eu não tenho reparado em humor de nenhum tipo. Acho uma produção razoável e um elenco irregular para um roteiro bobo e caótico, que mistura alhos com bugalhos, não tem qualquer moral, mensagem ou conclusão. Enfim, mais uma das bobagens em que a pobre Anna se meteu, por ingenuidade, por dinheiro, ou pela rematada incompetência de seus empresários. Estreou no fim de 2005 no Canadá e prosseguiu em lançamento limitado no primeiro trimestre de 2006.
Irish Jam (2006)
A história é a de um malandro americano que ganha um pub irlandês como prêmio em um concurso de poesia, e só quando chega lá se dá conta de que a vila inteira onde se encontra o bar está prestes a ser despejada por um empresário inescrupuloso.
São diversos os pontos negativos: começa com a história, implausível, de um pub sendo oferecido de mão beijada em um concurso de poesia. Continua com o fato da vila irlandesa parecer-se com um vilarejo do século XIX (somando-se ao fato de que, ao que se sabe, nenhum dos atores do filme é, de fato, irlandês) e segue com a chegada do malandro americano, que não é ninguém menos do que Eddie Griffin, rapper e comediante só conhecido no Brasil por ser o cafetão negro que dá as dicas a Rob Schneider, nos dois horrendos filmes da série Deuce Bigalow. Pior: o filme é veículo exclusivo para Eddie, que sempre carregou a pecha de ser um mero aspirante a seu xará Eddie Murphy e jamais protagonizou um filme de sucesso. A impressão é de que o protagonista originalmente pensado era alguém na linha de Will Smith ou Martin Laurence, e pergunta-se o que teriam na cabeça o desconhecido Max Myers, quando escreveu essa história, e o não menos desconhecido John Eyres, quando co-roteirizou e dirigiu um filme que mistura um rapper com irlandeses subdesenvolvidos. O resultado não tem graça. É simplesmente constrangedor. A falta de timing, de ritmo entre os atores é tal, que a impressão que se tem é de um rapper que entrou no meio de uma ópera.
 |
| Eddie Griffin e Anna |
Anna faz a viúva irlandesa Maureen, que se apaixona por Griffin. Me faltam palavras para descrever o absurdo de querer transformar Anna e Griffin em par romântico. Seria como Juliana Paes se apaixonando por Renato Aragão, ou coisa do gênero. É surrealista.
Vamos aos pontos positivos. Há dois. O primeiro, mais modesto, é a pequena Tallulah Pitt-Brown, filha de Anna, no filme. É uma menininha linda e muito expressiva. Infelizmente, não parece ter feito filmes depois de Irish Jam. O segundo, mais importante, como sempre, é a presença de Anna. Aos 29 anos e provavelmente pouco depois de dar à luz, Anna está deslumbrante e perdeu, finalmente, o ar de menina que tinha até então. Além disso, a maturidade se refletiu também no trabalho; é uma atriz consumada. Duas de suas cenas são extremamente dramáticas e ela dá um verdadeiro show de interpretação e de talento. Pérolas aos porcos. Nunca tanto talento foi tão desperdiçado. Por muito, mas MUITO menos do que isso, Reese Witherspoon ganhou um Oscar. Chamada exatamente para representar o contraponto de valor artístico dentro de um filme idiota para divulgar um comediante-rapper do segundo time, Anna acaba parecendo uma atriz shakespeariana contracenando com o Snoop Doggy Dog.


Entre os diamantes do talento de Anna jogados no lixo estão duas músicas que ela canta lindamente; a primeira é My Love will carry you, que abre o filme, e no meio temos Sweet morning dew. Uma maravilha, eu nem sabia que ela cantava, e muito menos que cantava tão bem. Para coroar este festival de enganos, não me consta que exista sequer uma trilha sonora oficial do filme, para que possamos ouvir direito a voz de Anna cantando. Mas somos obrigados a engolir um clipe de rap, no encerramento do filme, cantado por Griffin, do qual Anna participa. Constrangedor.
Que eu saiba, Irish Jam não passou nem pelos cinemas e foi direto para DVD, já em março de 2006. Uma curiosidade deste filme é que no papel da noiva que Griffin largou nos Estados Unidos, está a atriz Mo’Nique, que em 2010 ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu magnífico trabalho no filme Precious.
Goal II: Living the Dream (2007)
O roteirista é o mesmo. O diretor chamado é um tal de Jaume Collet-Serra, que guarda a particular vergonha de ter dirigido House of wax, catástrofe estrelada por ninguém menos do que Paris Hilton. É esse o tipo de roubada em que Anna se meteu, no ano em que foi salva por Pushing Daisies.
Aqui o personagem de Kuno Becker vive as agruras de ser famoso e rico como desejava, descobre a orgia de festas, dinheiro, mulheres e drogas em que vivem os maiores jogadores do mundo, e ainda reencontra sua mãe. É mais um festival de clichês, mas pelo menos Anna tem um papel maior e, graças a isso, o filme torna-se ligeiramente menos intragável do que o primeiro. Ainda assim, é infinitamente mais longo do que deveria ser.
(spoilers) Ao que parece, esses filmes alcançaram alguma fama entre o público mais jovem e aficcionado do futebol. Por essa razão, o segundo filme termina sem que a briga de Roz (Anna) – grávida – e Santi (Kuno) seja resolvida, e antes dos créditos finais lê-se a mensagem "to be continued". A idéia era espremer mais uma continuação, só que a carreira de Anna decolou com Pushing Daisies logo após o lançamento de Goal II e ela se viu livre dessa porcaria. Deve ter recusado o convite para participar do terceiro filme alegando outros compromissos engatilhados e o roteirista Mike Jefferies não teve outra saída senão limar integralmente a personagem Roz da continuação. O terceiro filme foi dirigido por Andrew Morahan (que dirigiu videoclipes sua vida inteira) e Santiago tornou-se simples coadjuvante na história central de dois outros jogadores. Desnecessário dizer que Goal III desmoralizou a franquia, foi direto para DVD em meados de 2009 e é geralmente considerado uma farsa e um dos mais desavergonhados caça-níqueis de todos os tempos.
Em uma cena de Goal II, quando suspeita de que foi traída, Roz diz, ao telefone: "Eu não mereço isso". Pra falar a verdade, a personagem até que merecia um pouco. Quem não merecia, mesmo, é Anna e o público.
Báthory (2008)
Anna e o diretor Juraj Jakubisko
Em 2006, vendo a atriz às voltas com essa seqüência de filmes dantescos, Deus teve misericórdia de Anna. O famoso diretor eslovaco Juraj Jakubisko havia escalado a atriz holandesa Famke Janssen para protagonizar uma cinebiografia romanceada da famigerada Condessa Erzsébet Báthory, num projeto milionário financiado pelos governos da República Tcheca e da Eslováquia. Por alguma razão, Janssen acabou tendo que deixar a produção e o roteiro caiu nas mãos de Anna, que imediatamente se apaixonou pela personagem. Segundo o IMDB, a atriz aproveitou que a babá de sua filha Gracie era eslovaca e escreveu uma carta a Jakubisko no idioma do diretor, pedindo-lhe o papel. Se foi isso que o convenceu não sabemos, mas Anna substituiu Janssen e começou a trabalhar na mega-produção de Báthory.

A vida da Condessa Erzsébet Báthory, pelo que se sabe concretamente através de registros históricos da época, não foi nada surpreendente. Ela nasceu em Nyírbátor, na Hungria, em 1560 e vinha de uma família de altíssima influência na política européia; era descendente de István Báthory III, palatino (vice-rei) da Hungria no século XV, era sobrinha de István Báthory IX, rei da Polônia e grã-duque da Lituânia, e seus parentes comandaram a Transilvânia durante quase três séculos. Eram donos de dezenas de vilas e castelos no que se convencionou chamar, à época, de “Reino da Hungria”, que consistia na Grande Planície Húngara, a atual Eslováquia, parte da Croácia e a região da Transilvânia, que hoje pertence à Romênia. Erzsébet passou a infância no castelo da família, em Ecsed e aos 15 anos se casou com Ferenc Nádasdy, casamento arranjado quando ela ainda era criança, cujo objetivo era unir as duas famílias, ambas ricas e poderosas. Saiu do castelo dos Báthory e foi para o castelo da família Nádasdy, em Csejte (hoje na Eslováquia). Três anos depois de casados, Ferenc foi nomeado chefe das tropas húngaras na guerra contra os otomanos, que já vinha desde o século anterior. Enquanto matava os turcos e voltava ocasionalmente à Csejte com tesouros e mais tesouros pilhados durante os combates, Erzsébet aprimorava sua educação e é certo que ela aprendeu literatura, matemática, ciências, astronomia e falava cinco línguas: grego, latim, húngaro, alemão e o eslovaco, que era então a língua dos serventes.
 |
| O único retrato contemporâneo de Báthory, 1585 |
Sobre o caráter de Erzsébet as informações são poucas e truncadas. Fala-se de um caso de infidelidade que a teria levado a parir uma filha bastarda em segredo enquanto Ferenc estava em combate, comentários são feitos sobre punição excessiva e constante a serventes (o que é terrível, embora deva ser posto em contexto, no sentido de que o costume de tratar serventes como animais era comum entre a nobreza e de forma alguma exclusividade dos Báthory ou dos Nádasdy), mas também se fala de uma série de atos de altruísmo, como ajuda aos mais pobres dos vilarejos de que era dona, patrocínios a artistas e intelectuais, além de gordas contribuições tanto ao rei, de quem Báthory era credora, quanto à igreja luterana. Por sinal, mesmo tendo cardeais e católicos fervorosos na família, Erzsébet foi uma das primeiras nobres a apoiar a reforma de Lutero e tornar-se protestante, junto aos Nádasdy. O fato tinha uma certa gravidade, considerando que os Habsburgo – há 300 anos a casa real mais poderosa da Europa, de cuja linhagem vinha o então rei da Hungria, Rodolfo II – eram católicos, mas o momento era de juntar forças e, para tanto, a religião foi posta de lado e os Habsburgo lutaram lado a lado com a nobreza protestante, contra os otomanos. Não há registros exatos das circunstâncias em que Ferenc morreu, mas acredita-se que tenha sido em combate, em 1604. Pouco depois começaram os problemas de Erzsébet.
 |
| O brasão da família Báthory |
Ela teve três filhas – Anna, Orsolya, Katalin – e um filho – Pál – com o marido. Em seu grupo mais próximo de serventes contava com a ama-de-leite das crianças, Illona Jó, Dorottya Szentes, amiga de Illona, Katalin Beneczky, uma lavadeira, e o servente János Újváry, conhecido como "Ficzko". Também estava entre as pessoas de confiança da condessa uma mulher chamada Anna Darvolya (ou Darvúlia), que supõe-se ter sido a pessoa que introduziu a condessa à bruxaria e a demais práticas de sadismo. Em 1609 surgiram boatos de que jovens estavam aparecendo mortas nas redondezas do castelo de Csejte. A princípio não se deu maior atenção, já que Báthory era praticamente dona da cidade e como nobre tinha direito inclusive de dispor da vida de seus serventes como lhe aprouvesse. Acresce a isso o fato de que Erzsébet ainda era uma figura influente na política húngara e fazia visitas freqüentes à corte. Quando jovens também pertencentes à nobreza começaram a aparecer mortas, com sinais de tortura, o governo – e o rei, Mátyás II, que depôs seus irmão Rodolfo – não teve mais como fazer vista grossa. Em 1610, György Thurzo, amigo da família e agora palatino, fez uma investigação em Csejte; os resultados foram apavorantes e a vida de Erzsébet adquire, efetivamente, contornos de uma história de terror.

 Centenas de camponeses foram interrogados e testemunharam culpando a condessa pelas atrocidades. Illona Jó, Dorottya Szentes, Katalin Beneczky e Ficzko foram presos. Darvúlia, citada algumas vezes, morrera anos antes. Erzsébet, na condição de nobre, não foi a julgamento. Em depoimento, os quatro serventes falaram de dezenas de assassinatos utilizando técnicas de tortura que variavam entre espancamentos sucessivos até a morte, mutilação ou queimadura de mãos, rostos e genitálias, mordidas em rostos, braços e outras partes do corpo, congelação até a morte, cirurgias experimentais que geralmente resultavam em morte, inanição das vítimas e abuso sexual. Um suposto diário de Erzsébet é citado no julgamento como tendo o nome de 650 vítimas. Os quatro serventes foram executados e a condessa – sem direito de se defender – foi condenada a passar o resto de sua vida presa em seus aposentos, no castelo de Csejte. Morreu em 1614, aos 54 anos. Enterrada inicialmente lá mesmo, seus restos mortais acabaram trasladados para Ecsed depois que os habitantes de Csejte se queixaram da presença de Báthory no cemitério local.
Centenas de camponeses foram interrogados e testemunharam culpando a condessa pelas atrocidades. Illona Jó, Dorottya Szentes, Katalin Beneczky e Ficzko foram presos. Darvúlia, citada algumas vezes, morrera anos antes. Erzsébet, na condição de nobre, não foi a julgamento. Em depoimento, os quatro serventes falaram de dezenas de assassinatos utilizando técnicas de tortura que variavam entre espancamentos sucessivos até a morte, mutilação ou queimadura de mãos, rostos e genitálias, mordidas em rostos, braços e outras partes do corpo, congelação até a morte, cirurgias experimentais que geralmente resultavam em morte, inanição das vítimas e abuso sexual. Um suposto diário de Erzsébet é citado no julgamento como tendo o nome de 650 vítimas. Os quatro serventes foram executados e a condessa – sem direito de se defender – foi condenada a passar o resto de sua vida presa em seus aposentos, no castelo de Csejte. Morreu em 1614, aos 54 anos. Enterrada inicialmente lá mesmo, seus restos mortais acabaram trasladados para Ecsed depois que os habitantes de Csejte se queixaram da presença de Báthory no cemitério local.

No filme de Jakubisko, uma das primeiras falas do narrador é “quanto menos provas, maior a lenda”. Essa é a questão fulcral na vida de Erzsébet Báthory. Chegaram aos nossos dias os depoimentos de camponeses e uma boa parte da correspondência e dos procedimentos legais no julgamento da condessa, mas a coisa toda tem cara de conspiração. Báthory era protestante, mais rica do que o rei e seus parentes na Transilvânia viviam às turras com os Habsburgo. No mais, Mátyás era um rei fraco, usurpador e pode ter sido manipulado pelo palatino ou demais políticos gananciosos que estivessem de olho nas extraordinárias posses da condessa. A rigor, tudo é suspeito nesse julgamento. É ridícula a facilidade com que depoimentos de camponeses poderiam ser forjados ou arrancados à força, razão pela qual geralmente não eram sequer aceitos como provas. O mesmo se pode dizer das “confissões” dos quatro empregados de Erzsébet. As tais torturas citadas por eles seriam aperitivo comparadas às torturas que eles próprios podem ter sofrido, a fim de confessar o que fosse preciso para incriminar a condessa. Também não ajudou em nada a memória de Báthory o surgimento, no século XVIII, de uma conversa fiada espalhada por um jesuíta, segundo a qual a condessa costumava se banhar no sangue das jovens assassinadas, crendo que esse sangue possuía propriedades rejuvenescentes.


A lenda foi aumentando. Mais tarde alguém desenterrou a ligação de István Báthory V, príncipe da Transilvânia no século XV, com o nobre Wladislaus Drakwlya, também conhecido como Vlad III ou Vlad Ţepeş (pronuncia-se “Tsepesh”), o “empalador”, que serviu de modelo para o personagem Drácula, no fim do século XIX. Pior ainda foi quando um dos biógrafos de Erzsébet declarou, sem maiores provas, que o irlandês Bram Stoker utilizara a condessa como uma das inspirações para a criação de seu celebérrimo personagem. O resultado disse é que tomou-se por real a história do diário com 650 nomes de vítimas e Erzsébet Báthory entrou para o folclórico Guinness como a maior serial killer de todos os tempos. Também passou a ser conhecida pelos mimosos epítetos de a “Condessa Sanguinária” ou a “Condessa Drácula”.

Analisando com mais critério e menos sensacionalismo, estudiosos atualmente acreditam que Báthory talvez tenha sido, em seus últimos, anos uma mulher sádica e que serventes tenham sido assassinadas com determinados requintes de crueldade. Porém, muito mais como conseqüência de sua indiferença em relação à vida desta ou daquela empregada, e do tratamento desumano que se conferia aos serventes, do que por qualquer uma das razões apresentadas no julgamento. Isso evidentemente não a eximiria da acusação de ser uma assassina, mas lhe removeria a pecha de ser um demônio psicótico que se regozijava sexualmente na tortura desenfreada e continuada de centenas de meninas até a morte. Há que manter em perspectiva também o fato de que nos séculos XV e XVI a bruxaria era um crime com pena capital e aquela foi uma época em que o ocultismo esteve em alta, foi o tempo de Nostradamus, da busca pela “pedra filosofal” e era muito mais eficiente acusar Báthory de matar suas serventes em rituais macabros, do que apresentá-la como uma simples desalmada que de vez em quando matava suas empregadas, crime, aliás, do qual eram passíveis provavelmente todos os nobres da Europa.

(spoilers) Seja qual for a verdade, Jakubisko seguiu duas linhas mestras: em primeiro lugar reescreveu inteira a história da condessa, adicionando dezenas de elementos fictícios que enriquecem a trama; e em segundo, a eximiu de praticamente todos os seus crimes. O trabalho do eslovaco é uma exaltação à Báthory e vai contra tudo o que reza a lenda que a caracteriza como uma psicopata. No filme, Erzsébet (Anna) é uma mulher linda, inteligente e benemérita. Seu livrinho com centenas de nomes está lá mas não é de vítimas, e sim de pessoas que ela curou através de seu conhecimento de ervas medicinais. O contato com os criados é marcado pela generosidade e só resvala para punições severas, como chicoteamentos, quando ela comprova que houve conivência deles nas infidelidades do marido.
(Vincent Regan)
Seu casamento com Ferenc (Vincent Regan) tem altos e baixos e sofre seu único grande abalo quando ele prende o pintor Michelangelo Merisi – popularmente conhecido como Caravaggio, em homenagem à cidade italiana onde o pintor viveu a infância – em uma batalha qualquer e resolve dá-lo de presente à esposa, como espólio de guerra. Erzsébet e Caravaggio (Hans Matheson) se apaixonam e vivem um tórrido caso amoroso enquanto Ferenc permanece junto aos Habsburgo em batalha contra os otomanos. O affair acaba provocando o ciúme colateral de Thurzo (Karel Roden), nobre ganancioso, colega de Ferenc no exército húngaro, que secretamente ama Erzsébet.
Caravaggio e Hans Matheson
Caravaggio evidentemente entra nessa história como Pilatos no Credo e sua ligação com Báthory foi toda inventada por Jakubisko. O pintor, mostrado no filme como uma alma serena e inocente, era na verdade um beberrão inconseqüente e agressivo, que passou seus curtos 38 anos alternando-se entre os quadros magníficos que pintou, e uma vida de badernas, desavenças, alcoolismo e atentados contra sua vida. Na obra de Jakubisko, porém, ele não é apenas o amor da vida de Báthory, mas o elo de ligação entre a condessa e aquela que teria sido a terceira pessoa mais importante de sua vida, depois de Ferenc e Caravaggio: a feiticeira Darvúlia (Deana Jakubisková-Horváthová, esposa de Jakubisko e produtora executiva do filme).
 |
| Báthory (Anna) e Darvúlia (Deana Jakubisková) |
Voltando de uma batalha, Ferenc sente os chifres em sua testa quando vê no dedo do pintor um anel precioso pertencente à sua esposa. Percebendo que a intenção de Ferenc é matar o pintor, Thurzo joga veneno em uma bebida, sugerindo que ela seja dada a Caravaggio. Só que antes que o pintor possa ingerir o líquido da taça que lhe foi dada, Erzsébet, descontraída, tira-lhe a taça da mão e bebe o veneno. É o próprio Ferenc que exige, aos gritos, a presença de Darvúlia, embora ela seja mal-afamada nas redondezas, onde suas práticas pouco ortodoxas de curandeirismo são mal-vistas. Caravaggio é expulso de Csejte e sob os cuidados da feiticeira, Erzsébet se recupera. Como recompensa, torna Darvúlia sua confidente, braço-direito e filtro de todas as decisões que ela toma dali em diante.
Thurzo (Karel Roden) e Báthory (Anna)
Darvúlia prevê que Erzsébet terá dez anos de felicidade, findos os quais começará sua desgraça. E assim ocorre dez anos depois, quando Ferenc morre em combate e a condessa passa a ser assediada por Thurzo, que exige dela 1/3 de suas terras, supostamente prometidas a ele por Ferenc, antes de morrer. Báthory recusa in limine, captando instantaneamente a chantagem de Thurzo. Este então propõe o casamento de ambos, criando a união mais poderosa da Hungria. Mais uma vez rechaçado, Thurzo resolve se vingar e põe seu plano em ação trocando por um alucinógeno a poção que Báthory toma todos os dias, receitada por Darvúlia, para seus problemas de saúde.
Bathory (Anna) e o filho
Pál (Derek Pavelcík)
Com isso a condessa passa a ter surtos de loucura, fica neurótica, mata a tesouradas uma criada que se descuida levemente enquanto lhe corta o cabelo, e expulsa Darvúlia do castelo. A situação fica insustentável para Báthory quando, após o assassinato da cabeleireira, corpos e mais corpos aparecem com marcas de tortura nos arredores de Csejte. Thurzo espalha – com a conivência dos dois genros da condessa, alijados de seu testamento em favor de Pál – o boato de que é Erzsébet quem mata as moças, drenando-lhes o sangue e banhando-se nele para manter-se jovem. E de fato ela se banha em um líquido vermelho, só que o líquido não passa de uma infusão de ervas avermelhadas que dão essa coloração à água. Como se vê, uma engenhosa mistura feita por Jakubisko, unindo fatos reais, boatos posteriores e sua própria imaginação.

O filme é um verdadeiro espetáculo visual. Teve locações na Áustria, na Hungria (Csejte), na República Tcheca e na Eslováquia. As reconstituições de época são impecáveis, os cenários (Karel Vacek e Jan Zázvorka) são perfeitos e os figurinos góticos (Jaroslava Pecharová) são originais e marcantes. A direção de arte (F.A. Brabec, Ján Duris e o próprio Jakubisko) é primorosa e a cenografia é detalhista ao extremo na recriação de cenas cotidianas nos vilarejos, ou nas grandes festas palacianas. Até mesmo liberdades totais de Jakubisko, como a inclusão dos dois padres inventores (Bolek Polívka e Jirí Mádl), enviados pelo cardeal para investigar Báthory, e que em cada cena mostram invenções diferentes como os patins que funcionam à corda, a câmera fotográfica rudimentar e o pára-quedas que segue o modelo criado por Leonardo Da Vinci, funcionam bem no contexto do filme.
Bolek Polívka e Jirí Mádl
Censurar-lhes a presença ou questionar a época das invenções é bizantinismo, de tão evidente que eles são um toque excêntrico e cômico, o único, aliás, no filme todo. Objeções podem ser feitas ao roteiro, que deveria aprofundar a dissensão político-religiosa entre Báthory e os Habsburgo e peca por uma simplicidade excessiva ou piegas em alguns momentos importantes, sobretudo do meio para o fim e de forma explícita nas últimas falas de Erzsébet e Thurzo. A edição também tem aqui e ali pecadilhos que não comprometem o filme, mas truncam um pouco a narrativa e obrigam o espectador a assistir algumas cenas mais de uma vez para que se compreenda o significado exato pretendido.
 |
Em sentido horário: Vincent Regan, Karel Roden,
Franco Nero e Hans Matheson |
O elenco é brilhante. A Erzsébet sensual e determinada desenhada por Jakubisko cai como luva em Anna, que aos 30 anos conservava toda a beleza da juventude e ainda podia se passar por uma mulher de meia-idade sem qualquer esforço. Se sua interpretação não atinge píncaros de dramaticidade é pela eventual inanição do roteiro e pelo relativo incômodo de ter que fazer um sotaque quadrado e indefinível de quem supostamente nasceu na Hungria. Vincent Regan está muito bem como Ferenc e Karel Roden empresta, com seu rosto de madeira, o ânimo sombrio e perverso ao facinoroso Thurzo. Hans Matheson tem o olhar angustiado e frágil requeridos pelo Caravaggio imaginário de Jakubisko. Deana Jakubisková-Horváthová brilha em todas as cenas em que aparece a sua assustadora, e ao mesmo tempo protetora, Darvúlia. A agradável surpresa fica por conta do rei Mátyás, interpretado por ninguém menos do que o velho galã italiano Franco Nero, enchendo de carisma um personagem que desapareceria, feito por outro. E também merecem menção atores coadjuvantes como Lucie Vondrácková, no papel da desventurada Lucia, Marek Majeský como o sobrinho solícito Gábor e Michaela Drotárová no papel da voluptuosa Érika.


Como quase sempre na carreira de Anna, foi uma vitória que não veio inteira. Báthory estreou em julho de 2008 na República Tcheca e na Eslováquia, tornando-se um sucesso estrondoso de bilheteria nos dois países. Em outubro o filme foi lançado na Rússia. A partir daí, sabe-se lá por quais razões a distribuição parou. Báthory fez sucesso em todos os festivais por onde passou, na Espanha, Alemanha, Estados Unidos e na França mas só foi entrar em circuito na Hungria em janeiro de 2010 e no Reino Unido agora em dezembro, talvez porque em 2010 se comemoram os 450 anos de nascimento de Erzsébet e os 400 anos de seu julgamento. Nos Estados Unidos o filme nunca foi lançado comercialmente e o lançamento em DVD demorou quase dois anos para ocorrer. De qualquer forma, é um trabalho modelar, de extrema qualidade, e é de longe o melhor filme protagonizado por Anna.
____________________________________________