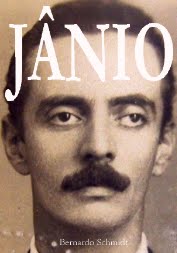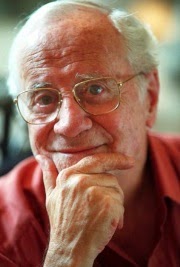FBF 1990
Com a filha de Olga e Prestes, Anita Leocádia, em dezembro de 1990 na antiga Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Lançamento de seu livro - um trabalho profundo e meticuloso - sobre a Coluna liderada por seu pai e Miguel Costa.
Nascida na prisão de mulheres de Barnim-strasse, em Berlim, na Alemanha nazista de Hitler, Anita é uma mulher brilhante. Discordo de uma boa parte de seus pontos de vista políticos e ideológicos, mas é impossível não admirar o que disse recentemente, em entrevista ao Jornal do Comércio:
"Lula nunca me enganou, nem a mim, nem ao meu pai. O PT nunca nos enganou, pois é um partido comprometido com a burguesia. O Lula não quis estudar, e se deixou levar pelos intelectuais burgueses. Os próprios governos Lula estiveram comprometidos com os setores dominantes, governando para a burguesia, garantindo os interesses do grande capital internacionalizado. Não houve ruptura. Na verdade, foi a continuidade do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso". (17/08/2018)
WAR MACHINE (2017)
Mais uma bomba produzida a peso de ouro pela Netflix. Não consegui assistir inteiro. Ao contrário de "Beirut", com Jon Hamm, lançado este ano, que - mesmo superficial e pouco crível - é um suspense político interessante e com um roteiro razoável e dinâmico, "War Machine" se arrasta por duas horas nas idas e vindas do general Glen McMahon e suas tentativas de cooptar aliados para um plano de pacificação e reconstrução do Afeganistão.
A narração é chata e irritante e o roteiro é raso e de um humor que efetivamente não tem graça. A performance de Brad Pitt alcança novos píncaros de canastrice. Ele é tão forçado que parece estar imitando seu próprio personagem de "Bastardos Inglórios" com uma voz completamente artificial. Simplesmente não convence. O elenco é bom mas ninguém se destaca. O único prazer é rever Meg Tilly, que continua linda aos 57 anos.
Desperdício. (25/08/2018)
BEATRIZ SEGALL
Eu não tinha conhecimento maior de teatro ou de interpretação quando assisti "Vale Tudo", em 1988, aos 16 anos. A excelência do elenco, entretanto, era tão gritante que não havia como ficar indiferente. Lembro-me de Sebastião Vasconcelos, em papel pequeno bem no início, mas plenamente suficiente para estampar a fogo seu selo constante de superioridade artística. Renata Sorrah foi outra que deu aulas cada vez que apareceu na tela, com sua voz cortante e sua dramaticidade torrencial. Foi um dos melhores papéis de Reginaldo Farias, de Glória Pires e de Ricelli. Mas a recordação de todos, eternamente, será a Odete Roitman de Beatriz Segall. A atriz trazia para o folhetim de Gilberto Braga não só talento mas a classe necessária para o papel, que em Beatriz - uma mulher elegante e culta, além de nora de Lasar Segall e de Jenny Klabin Segall - era natural. E uma certa arrogância que - dizem - era algo peculiar na própria atriz.
O papel foi aquele sucesso estratosférico que constrói e destrói uma carreira. Beatriz, que na época já contava quase 40 anos de teatro e TV, experimentou fama que jamais conhecera. Suas cenas foram todas extraordinárias, absolutamente perfeitas. Uma, em particular, me vem à lembrança, em verdadeiro tour de force com Nathalia Timberg. As duas discutiam e acabavam aos prantos; Beatriz chorava convulsivamente. Minha mãe, assistindo comigo, parecia Polonius na cena dos atores (quando este observa a Hamlet a dramaticidade do ator que interpreta Enéias, "Look, whether he has not turned his colour and has tears in's eyes"), e em determinado momento vira para mim e diz: "Olha como ela chora de verdade!" Um espetáculo de talento. A cena de seu assassinato eletrizou o país. E no entanto, como destaquei há pouco, o papel fez e desfez sua carreira. Marcada a ferro pela classuda, perversa e arrogante Odete, Beatriz não recebeu mais ofertas que lhe agradassem ou fugissem do estereótipo criado em "Vale Tudo". A conseqüência é que sua carreira televisiva nunca mais teve um sucesso que sequer se aproximasse dos píncaros de Odete Roitman.
 |
| Guerra Santa (Foto de Lenise Pinheiro) |
Infelizmente perdi "Três Mulheres Altas", de Albee, que Beatriz encenou em 1995, e sobretudo lamento não tê-la visto no palco com Miriam Pires, em "Ponto de Vista", de David Hare (e mesmo em "Quarta-Feira, sem Falta, Lá em Casa", de Mario Brasini, que a crítica espinafrou). Pude vê-la uma última vez de perto há três anos, na gravação de seu Persona em Foco, o excelente programa de Atilio Bari. Era inacreditável que ela estivesse com 89 anos. Estava bonita, vestida de forma discretamente moderna, andava com tranqüilidade, falava com uma voz forte e bem modulada, lembrava-se de tudo, parecia uma senhora chegando no máximo aos 60. E o temperamento estava lá. Foi doce e simpática quando quis, mas quando se deu conta de que o público - formado por estudantes de teatro - não conhecia certos textos citados (ou encenados anteriormente) por ela, não perdeu a oportunidade de expressar seu descontentamento, criticando abertamente aquela falta imperdoável de cultura.
Gostaria de tê-la visto como Gertrude, no Hamlet de Walmor, mas eu ainda não era nascido. E na década de 90 sonhei em vê-la como Volumnia, para o Coriolano de Luis Melo. Mas foi só um sonho.
Beatriz era uma grande atriz, daquelas que não se fazem mais, e merecia ter recebido papéis à altura de seu talento. (06/09/2018)
BIBI
Sim, está na hora. E ela está viva e bem. Simplesmente chegou a hora de parar. Mas o desejo de que ela seguisse se apresentando eternamente não acaba.
Quem viu, viu. Quem não viu, não saberá jamais o que foi o prazer excelso de ver nossa primeira dama do teatro, tão brilhante, tão plural, tão perfeita, encantando com seu talento superlativo.
Um beijo, amada Bibi! (10/09/2018)
I, CLAUDIUS (1976)
Com grande atraso assisto uma das obras-primas da BBC, o seriado "I, Claudius", de 1976, com roteiro de Jack Pulman e direção de Herbert Wise. A série tem 13 episódios e está baseada nos dois best-sellers de Robert Graves, "I, Claudius" (1934) e "Claudius the God" (1935), que contam a história política de Roma de meados do século anterior à era cristã, até meados do primeiro século D.C. - a chamada dinastia "júlio-claudiana" - em primeira pessoa, como se fossem as memórias de Cláudio.
Derek Jacobi precisou sempre atentar para o exagero na utilização de seus imensos recursos interpretativos, e Cláudio - manco, gago e com um acentuado tique que o fazia mexer a cabeça - representou um papel que lhe caiu como luva. Sou grande admirador de Jacobi e sua performance causa um misto de admiração e mal-estar. O elenco todo é muito bom; vemos talentos promissores como Patrick Stewart (Sejanus) e John Rhys-Davies (Macro), misturados a talentos alcançando o pleno fastígio como o grande e saudoso John Hurt, estupendo no papel de Calígula e assentando as bases para o que seria a interpretação definitiva de Malcolm Mcdowell, três anos depois.
 |
| George Baker (Tiberius), John Hurt (Calígula) e Derek Jacobi (Claudius) |
Brian Blessed e Siân Phillips, porém, são a cereja desse bolo e tem, em "I, Claudius", as melhores performances de suas carreiras, encarnando Augusto e Lívia.
Muita coisa me impactou em "I, Claudius" mas não falarei sobre isso agora. No momento venho apenas comentar que em se tratando de um império corrupto, eivado de incompetência e transbordando cretinos, imorais e assassinos, é impossível não fazer um oportuno paralelo com o Brasil. Sobretudo com a manada que compõe esta eleição. No episódio 7 veremos Sejanus entrando em desgraça com Tibério. O paralelo começa com o fato de que o imperador não escolheu outro senão seu sobrinho-neto Calígula - um tarado psicopata desde a infância - para ser seu grande conselheiro e sucessor. Ecos do PT. Ele pergunta ao jovem como prender Sejanus e destituí-lo de seu cargo de chefe da guarda pretoriana sem revoltar seus subordinados. Na resposta de Calígula está a escolha de todos os candidatos a presidente, sem exceção.
"Se você não conseguir encontrar um homem com integridade, procure um homem com ambição. Encontre um cachorro que comerá outro cachorro".
Ecos do PT. (22/09/2018)
DISSIMILIS, SED ÆQUALIS
O ano era 1990 e o evento era a inauguração do comitê de Franco Montoro, candidato ao senado. A eleição era para o governo e os candidatos eram Mário Covas, Luiz Antônio Fleury Filho, Plínio de Arruda Sampaio e Paulo Maluf. Além deles ainda tínhamos retardatários como Almino Affonso e Adhemarzinho.
 |
| Plínio, em entrevista à program da Rede Manchete durante a campanha de 1990 |
Almino era vice do governador em fim de mandato, Orestes Quércia, e mesmo sabendo que não tinha cacife eleitoral para vencer resolveu se candidatar por despeito, depois de ser preterido por Quércia na escolha do sucessor, que recaiu sobre Fleury. Este fora presidente da associação dos ministérios públicos e secretário de segurança de Quércia. Adhemarzinho - campeão de votos para federal em várias legislaturas - vinha agora na lanterna, tentando recobrar algum prestígio eleitoral de seu pai, governador três vezes, o velho Adhemar de Barros.
Quanto a Maluf... bom, Maluf era Maluf. Prefeito e governador biônico - e fragorosamente derrotado por Tancredo no Colégio Eleitoral - queria se livrar dessa pecha de uma vez por todas, se elegendo diretamente para o cargo. Usava nessa eleição, pela primeira vez, os serviços de um publicitário que se tornaria célebre: Duda Mendonça.
Com exceção de Fleury, que vinha do ministério público e estava na política há menos de uma década, todos tinham de 25 a 30 anos de experiência com cargos executivos ou legislativos.
Foi uma eleição renhida. Maluf ia para sua quinta tentativa de chegar ao executivo pelo voto. Estava alinhado com o então presidente Fernando Collor. Fleury trazia o prestígio do governo de Quércia, pródigo em realizações (e em outras coisas que não vem a pelo comentar). Ambos foram para o segundo turno e Fleury venceu. Maluf venceu a eleição para a prefeitura, dois anos depois.
 |
| Covas, no horário eleitoral de 1990 |
Vendo os favoritos de hoje me pergunto: como pudemos decair tanto? E ao mesmo tempo faço uma analogia interessante com essa eleição de 1990: por que, tendo candidatos bons, escolhemos sempre os piores? E atenção para o fato de que disse "escolhemos", o que significa que me incluo naqueles que incidiram repetidas vezes nesse erro. Por que, tendo candidatos com a experiência de Geraldo e Ciro, o Brasil está dividido entre um extremista hidrófobo e o garoto de recados de um presidiário?
Nesta eleição vamos votar com consciência e com equilíbrio: Geraldo 45, Márcio França 40, Mara Gabrilli 457 e Roberto Freire 2323. (06/10/2018)
O ator Sanjay Dutt (cujo apelido é "Sanju") parecia destinado a ter uma vida agitada e repleta de eventos, cheia de alegrias e tristezas. Seu pai - Sunil Dutt - foi ator e diretor de cinema, ativista social e ministro, na Índia. Sua mãe, Nargis, foi uma das atrizes mais famosas de Bollywood nas décadas de 40 e 50. Mais tarde também se popularizou pelo ativismo social.
A vida de Sanju, entretanto, tem um elemento a mais: ele foi associado aos ataques terroristas de Bombaim, em 1993, o que acabou jogando-o em um torvelinho de acusações de terrorismo, pelos anos seguintes. Amigo do ator, a quem chegou a dirigir no cinema, o aclamado e respeitado diretor indiano Rajkumar Hirani resolveu escrever um roteiro com seu colega Abhijat Joshi sobre a vida de Sanjay. O resultado é o filme "Sanju", lançado este ano, e que, a exemplo de vários outros filmes de Hirani, já é uma das maiores bilheteria de Bollywood em todos os tempos.
A história gira em torno do envolvimento de Sanju (Ranbir Kapoor) com as drogas, o impacto disso em sua família, sua relação com o pai (Paresh Rawal) e com Kamlesh, seu melhor amigo (Vicky Kaushal), sua odisséia no cinema e a ligação com o terrorismo. O filme começa com Sanju prestes a ser preso e tentando desesperadamente contar sua própria versão dos fatos, mas para isso terá que convencer uma biógrafa que se mantém cética diante do convite.
 |
| Manisha Koirala interpreta Nargis (à dir.), a mãe de Sanju |
 |
| Sonam Kapoor e anbir Kapoor em cena de "Sanju" |
Gostei muito. Vou procurar os filmes anteriores de Hirani. São todos clássicos na Índia e na Ásia, onde o cineasta já recebeu dezenas de prêmios. Mas ele nunca foi sequer indicado nos festivais de cinema ocidentais. É uma pena. E uma injustiça. (16/10/2018)
THEY'LL LOVE ME WHEN I'M DEAD (2018)
"Passeio pela mente caótica de um criador irresponsável" seria um título mais adequado a este documentário sobre o último filme que Welles tentou dirigir e não foi finalizado, estando hoje enlatado e engavetado. A mística que acompanha a vida de Welles - considerado gênio aos 26 anos e tentando repetir o feito pelos quarenta e quatro anos seguintes - não é desconhecida; ele não conseguiu realizar um trabalho com inteira liberdade depois de Kane, fosse porque jamais estava de acordo com os executivos que bancavam seus filmes e insistiam em dar palpites que ele rejeitava, fosse porque quando tentava produzir de forma independente estourava prazos e orçamentos e acabava sem dinheiro. Podemos discutir se tal era culpa da falta de sensibilidade, de tino comercial ou de simples incompetência de quem quer que estivesse produzindo, ou da irresponsabilidade fundamental de Welles, que se atirava sem rede de segurança na realização de projetos que não tinham pé nem cabeça, eram bancados inicialmente por figuras excêntricas e de caráter geralmente questionável e invariavelmente naufragavam no meio do caminho, por falta de um planejamento básico.
No caso de "The Other side of the wind" vemos um projeto que se arrastou por mais de uma década, vítima permanente da falta de dinheiro. Mas vemos também que quando o dinheiro existia, ele era usado de maneira inteiramente irresponsável por Welles. Filmava sem roteiro, contratava gente que não era do meio, perdia-se na filmagem de maluquices - como "os anões no chão e no teto", que não existiam e obrigavam o elenco a uma mímica surrealista que os atores nunca souberam o que significava - e não estipulava um cronograma para o trabalho. Por vezes me veio à lembrança a célebre filmagem de "City Lights" (1931), de Chaplin - um verdadeiro gênio que Welles amava e invejava profundamente - onde milhares de quilômetros de filme foram gastos ao longo de meses até que a história tomasse uma forma perfeita na cabeça do cineasta. A diferença é que Chaplin era responsável e metódico. Era voluntarioso, irritadiço e propenso a isolamentos prolongados. Mas seus humores eram conseqüência da gestação de suas obras-primas. Ele gastava tempo infindável e verdadeira fortuna em filme, apavorando os executivos que o bancavam, mas quando terminava e apresentava o produto final ao público, redimia-se e reafirmava-se como gênio. Welles, não.
 |
| John Huston, protagonista de "The other side of the wind" e o diretor Orson Welles |
 |
| Huston, Orson e Peter Bogdanovich em momento pra lá de descontraído nas filmagens de ''The other side of the wind" |
Não obstante, há três anos, depois de longa batalha judicial, a Netflix injetou dinheiro na finalização do filme e na produção deste documentário. Uma equipe de editores de imagem e som foi contratada, o compositor Michel Legrand (que já trabalhara com Welles em "F for Fake") foi chamado para compor a trilha sonora, seguindo uma recomendação do diretor, de que a música do filme seria "jazz", e o filme foi lançado há dois meses no Festival de Veneza. Não assisti e não sei se assistirei. Por mais boa vontade que se possa ter por esse projeto, não é um filme de Welles. É apenas uma curiosidade.
O documentário é bom, sem ser excepcional. Não gostei do recurso de utilizar valiosos depoentes sem que se lhes dê nome, função e assim por diante. É a Netflix querendo inventar moda e sendo apenas burra.
Mas recomendo pelo conteúdo abordado. (07/11/2018)
2x VAN GOGH
O primeiro filme sobre Van Gogh, "Lust for Life", é de 1956 e tem direção de Vincente Minelli. É baseado no livro de Irving Stone (lançado em 1934) e roteirizado por Norman Corwin. Começa com o fracasso de Van Gogh em seguir o ministério do pai, e seu subseqüente envio como missionário às paupérrimas minas de carvão no sul da Bélgica. Vai acompanhando em pinceladas rápidas a vida tumultuada do pintor: os fracassos sucessivos, a pertinácia, as novas tentativas, ainda mais obstinadas, a dedicação esquizofrênica a seu ofício e à sua arte, a solidão crônica, sua estada em Paris com o generoso irmão Theo, o sonho de uma colônia de pintores em Arles e a convivência intensa e violenta com Gaughin, o adeus à sua sanidade, o adeus à sua orelha, internação, Auvers, e declínio.
O filme de Minelli é excelente e tem duas vigas mestras: primeiro a direção de arte, que mistura locações onde o próprio Van Gogh esteve e a recriação verdadeiramente artesanal desses locais. É um trabalho bem cuidado, rico e autêntico. E segundo, o trabalho de Kirk Douglas. O ator é provavelmente a última pessoa em quem eu teria pensado para esse papel. Não imaginei que ele conseguiria transmitir toda a carência e a vulnerabilidade de Van Gogh, e ele o fez muito bem. É uma de suas melhores performances. Anthony Quinn não inova; é o bully de sempre, grosseirão, briguento e ignorante. E solapou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante daquele ano. Kirk levou só o Globo de Ouro de Ator Principal. Deveria ter sido ao contrário.
 |
| Kirk Douglas |
"Loving Vincent" foi dirigido pela polonesa Dorota Kobiela e a estória foi criada e roteirizada por ela, Hugh Welchman e Jacek Dehnel. Um ano após a morte de Van Gogh, o dono da última casa que ele alugou encontra uma carta não enviada dele para Theo. Entrega a carta a Roulin, que se encarregava do envio das múltiplas cartas escritas mensalmente por Van Gogh a seu irmão. Este, por sua vez, resolve mandar o filho entregar a carta pessoalmente a Theo. E chegando a Paris o rapaz entra em contato com novas informações, depoimentos conflitantes, e todo um conjunto de elementos que o fará redescobrir o velho amigo de seu pai.
O diferencial no trabalho de Dorota é que "Loving Vincent" é uma animação pintada a óleo, mostrando os locais onde Van Gogh esteve e as pessoas que ele conheceu a partir de seus próprios quadros. O filme é um desenho animado que utiliza atores e atrizes, mas a imagem é toda processada como se fosse uma pintura de Van Gogh. Para isso Dorota coordenou uma equipe de 95 pintores. A experiência visual é extraordinária. Nunca se viu coisa assim e o esforço é dos mais comendáveis. (spoilers) Eu só gostaria que o roteiro tivesse sido um pouco menos infanto-juvenil, e não tivesse se perdido naquela investigação inútil da morte de Van Gogh. Com um recurso artístico tão inédito e tão interessante, as possibilidades eram infinitas. Pelo lado positivo ele oferece alguns elementos que são omitidos ou ignorados no filme de 1956, como o destino de Theo.
Seja como for, recomendo os dois. Primeiro o de 1956, para que o neófito descubra quem foi Van Gogh, e em seguida o de 2017. (20/11/2018)
HÁ 25 ANOS, TONZINHO
TBT 28/11/1993
 |
| Tonzinho no Ibirapuera, 28/11/2018 |
Maluf se elegeu prefeito no segundo turno da eleição de 1992. Venceu Suplicy. Se a esquerda e a classe artística já abominavam Maluf antes dessa eleição, agora a coisa estava bem pior. Para tentar aplacar um pouco a raiva e a decepção de seus adversários derrotados, o prefeito eleito convidou Rodolfo Konder - figura admirável, respeitada e acima de qualquer suspeita - para ser seu Secretário de Cultura. Konder aceitou e ao longo de 1993, primeiro ano do mandato malufista, ele promoveu grandes espetáculos na "Praça da Paz", espaço reservado para shows no Parque do Ibirapuera.
 |
| Rodolfo Konder |
O céu estava completamente azul, a temperatura estava agradável e lembro-me de Tom comentando "o dia está tão lindo"... o cosmos pareceu conspirar pela beleza daquele dia e daquele espetáculo, o primeiro de Tom ao ar livre.
O show se dividia entre o início que ele cantava com sua banda, o momento sozinho ao piano e a volta da banda para o fim. A chamada "Banda nova" incluía sua esposa Ana e a filha Elizabeth nos vocais, além do filho Paulo no violão. Tom brincava que isso se devia ao "velho costume brasileiro de empregar parentes". Estavam lá também Danilo Caymmi na flauta e sua esposa Simone nos vocais.
Quando foi tocada "Garota de Ipanema" Tom deixou que o público cantasse. Levantou-se, acenou, despedindo-se e foi andando lentamente para os bastidores. Esperava-se que ele voltasse. Terminada a música as palmas ecoaram, generosas, e o público ficou alguns minutos pedindo bis. Percebi que Tom não voltaria. Fui até a parte de trás do palco e perguntei por Tom. "O Tom já foi", disseram. Como não era afeito a shows ele preferia ir antes para não ter que enfrentar a comoção com o público que viria a seguir.
Tonzinho não voltaria mais a São Paulo. Foi seu último show, aqui. Ele se foi um ano depois, em 8 de dezembro de 1994. Essa é uma de duas ou três fotos que tirei desse show.
Eu tinha 21 anos. Infelizmente não pude beijar suas mãos. Mas só de poder assistir Tonzinho, tão perto, já foi um dos mais sublimes prazeres da minha vida. (22/11/2018)
F. MURRAY ABRAHAM
Com o magnífico F. Murray Abraham em outubro de 1997, na saída do Royale Theatre de Nova York (hoje chamado - quem diria? - "The Bernard B. Jacobs Theatre"), depois de uma apresentação de The Triumph of Love, com direção de Michael Mayer. Adaptação de Le Triomphe de l'Amour, de Marivaux, com texto de James Magruder e músicas de Jeffrey Stock e Susan Birkenhead. De quebra, inteiramente por acidente - já que meu único interesse era ver Abraham - acabei conhecendo o trabalho e o talento superior de uma das maiores atrizes da Broadway, Betty Buckley (quando assisti Cats em 1985 ela acabava de ser substituída por Laurie Beechman).
Musicais não são a praia de Abraham mas sua simples presença no palco valeu milhares de vezes a peça. Conversei com ele no fim, falei-lhe de minha admiração desde Amadeus e perguntei-lhe por que o víamos interpretar Buckingham em cenas esparsas de Looking for Richard, de Al Pacino, e no fim o papel foi para Kevin Spacey. Ele disse que Pacino o convidara para o papel, mas que compromissos o impediram de ir até o fim da filmagem. O que terá acontecido? Não consigo imaginar nem mesmo Abraham dizendo "não" a Pacino, pelo projeto que for. Mas enfim, é uma pena.
Na despedida, beijei-lhe a mão. Ele me disse "Thank you" várias vezes, e depois "gracias". Pausou por um momento e me disse: "That's not right. That's not the way to say thank you in Brazil, is it?" Explico ao mestre a palavra certa e ele me diz, com sotaque engraçado: "Yes, obregado!"
MARÍLIA PÊRA E GIULIA GAM
 |
| Marília e Giulia em cena de "O Primo Basílio", 1988 |
 |
| Com Marília, 1996 |
Cumprimentei Marília com o prazer e a admiração de sempre, mas não resisti e disse a ela que a presença de ambas não podia deixar de me trazer à retentiva os embates entre a odiosa "Senhora Dona Juliana" e a linda e fogosa Luísa, personagens dela e de Giulia na inesquecível minissérie (à direita, no detalhe). Marília riu, adorou a lembrança e contou à Giulia. Aproveitei para pedir uma foto das duas, que aceitaram, humildes e brilhantes como sempre foram.
Aí está a foto. Um momento inesquecível. Uma lembrança doce da grande e saudosa Marília, ao lado da linda e talentosa Giulia Gam.
 |
| Giulia Gam e Marília Pêra, camarim do Teatro Cultura Artística, 1996 |
PERÍODO HERÓICO
Duas efemérides do rádio, acontecidas em 1950: primeiro vem a BANDEIRANTES com a extraordinária inovação de ficar 24 horas no ar, fato ainda inédito em todo o Brasil.
E ao mesmo tempo a RECORD inaugura a pré-história do Globocop e da pesquisa eleitoral, espalhando seis aviões por São Paulo com um time de jornalistas que incluía Murillo Antunes Alves e Sebastião Leporace, entre outros, a fim de colher a opinião do povo acerca das eleições de outubro de 1950. Período heróico.
Veja mais: