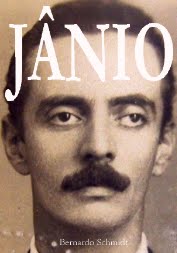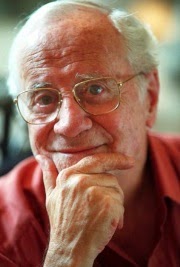Meus caros,
Este ano não consegui publicar antes da cerimônia o texto completo com as análises sobre todos os indicados. Seja porque não encontrei alguns dos filmes a tempo (como Vice e Mary Poppins returns), seja pelo intenso desinteresse de assistir grande parte deles. Em alguns casos aproveitei para fazer análises comparativas entre os filmes e versões anteriores da mesma história (A Star is Born, Mary Queen of Scots e Christopher Robin) e em outros, não tendo maiores considerações a fazer, mantive os comentários na superfície. Aqui e ali há textos escritos ainda no ano passado, antes de serem anunciadas as indicações.
Pessoalmente, errei praticamente todos os meus palpites. Continuo cometendo o erro de achar que o Oscar premiará por mérito e não por política, e este acabou sendo um ano com as premiações mais políticas de todos os tempos.
Enfim, lá vai.
Há spoilers de todos os tipos, então cuidado.
___________________________________________
4X A STAR IS
BORN
 |
| Adela Rogers, a mãe biológica de A Star is Born |
Produzido
por David O. Selznick o filme ganhou o nome de What Price Hollywood? e é um
melodrama muito bem feito; puxa para o lado da comédia romântica durante toda a
primeira metade e só descamba para a tragédia do meio para o fim. É valorizado
imensamente pela presença de Lowell Sherman (Max), em seu penúltimo filme - um
magnífico ator que infelizmente morreu apenas dois anos depois, aos 46 anos,
vítima de pneumonia - e da linda Constance Bennett (Mary). Soube recentemente
que Selznick desejava Clara Bow para o papel de Mary e no vai-e-vem das
negociações ela acabou comprometida com outro trabalho. É uma lástima
incalculável. Bow era tão linda que Hollywood nunca se deu conta do quanto ela
era talentosa, e teria sido perfeita no papel. O filme foi dirigido pelo ainda
novato George Cukor, que começara dois anos antes na Paramount e fazia sua
estréia na RKO.
What Price
Hollywood? não chegou a revolucionar e comenta-se que não deu lucro nas
bilheterias. Adela Rogers e Jane Murfin foram indicadas ao Oscar de Melhor
Roteiro Original mas perderam para Frances Marion por The Champ. Selznick daria
um jeito de ressuscitar o trabalho de Adela pouco depois, por meios não muito
corretos.
 |
| William Wellman |
Embora
trabalhe como assistente, Danny não tem como encaixar Esther em um filme mas,
vendo que a situação financeira dela é periclitante, consegue-lhe um emprego de
garçonete em uma festa do estúdio. Ela tenta impressionar os convidados fazendo
poses e trejeitos de atrizes famosas mas é ignorada. Quando desiste e está
guardando os pratos na cozinha, é abordada por Norman Maine, que se encanta com
ela, o que provoca o ciúme encarniçado de sua namorada ocasional, Anita Regis
(Elizabeth Jenns). Furiosa com o flerte do ator e a garçonete, ela quebra uma
baixela na cabeça de Norman, que cai desacordado, e ela sai correndo para botar
a culpa em Esther. Norman, porém, estava fingindo e assim que Anita sai os dois
vão embora da festa juntos. O ator descobre então que Esther é uma aspirante à
atriz e resolve ajudá-la. Começa ali um relacionamento que aos poucos vai se
tornando real e profundo (Wellman descarta toda a trama do milionário por quem
Mary se apaixonava e concentra o romance entre o alcoólatra e a novata). Pouco
depois surge a necessidade de substituir uma atriz famosa que fora obrigada a
abandonar um projeto com Norman e ele sugere Esther ao dono do estúdio, Oliver
Niles (Adolphe Menjou). Ele aceita, o filme é feito e Esther - já com o nome
hollywoodiano de Vicky Lester - é festejada pelo público. Felizes, Norman e
Esther se casam.
 |
| March e Gaynor |
 |
| March e Gaynor |
 |
| "Hello, everybody. This is Mrs. Norman Maine!" |
Este remake da Warner foi feito em 1954, época áurea dos musicais da Metro. Cukor decidiu transformar A Star is Born não na história de uma atriz, mas de uma cantora que procura seu lugar ao sol, em Hollywood. A princípio a diferença não é tanta, pois quando uma cantora fazia sucesso ela acabava no cinema, de uma forma ou de outra (e isso é assim até hoje, como nos ensina o exemplo de Lady Gaga, que veremos mais à frente). E era possível manter a espinha dorsal, ou seja, ela é descoberta por um ator bêbado e decadente. Para o roteiro, Cukor escalou o experiente Moss Hart; para as músicas ele chamou dois mestres: Harold Arlen e Ira Gershwin; e o casal protagonista foi feito por James Mason (Norman) e Judy Garland (Vicky). O filme começa bem, Esther é parte de um trio vocal que se apresenta em um evento no qual Norman aparece bêbado e sobe ao palco. Ao invés de ficar apavorada ela tenta incorporá-lo ao número, o que alivia a tensão do público e provoca gargalhadas. Original e divertido. Mais tarde, na mesma noite, Norman vai ao bar onde ela tem outra apresentação e temos o melhor momento do filme: Judy está com sua banda e canta "The Man That Got Away", em interpretação antológica, lembrada até hoje.
 |
| Judy e James Mason |
 |
| Judy em um dos números de "Born in a Trunk" |
 |
| A cena do Oscar |
Segundo, Cukor decidiu torturá-la pela perfeição e ela ficou over. Esther não sofre a desgraça de Norman com serenidade, carinho e permanente lealdade; ela fica deprimida, atrabiliária, histérica e desvirtua a personagem. Acabamos lembrando da vida real de Garland e de que era ela que de fato tinha problemas com o alcoolismo. O filme sai do romance trágico e resvala desagradavelmente para o melodramático. Também inseriu-se uma fala em que ela diz odiar Norman quando ele tem recaídas e volta a beber. Me parece a própria negação de seu caráter e de sua personalidade. Na minha concepção, a gratidão e a lealdade a Norman eram princípios de tal forma arraigados na alma de Esther que não acredito que ela sequer se permitisse pensar algo assim.
O filme foi
indicado a seis Oscars - inclusive Ator e Atriz - mas não ganhou nenhum.
Garland perdeu para Grace Kelly (The Country Girl) no que é considerada uma das
maiores injustiças do Oscar em todos os tempos. Nem sequer "The Man That Got
Away" ganhou Melhor Música, perdendo para a chatinha e profundamente inferior "Three Coins in the Fountain". Para piorar, a Warner não gostou do produto final
e cortou meia hora do filme. "Born in a Trunk" foi inteira cortada.
Somente na década de 80 o filme foi reconstituído em sua duração original, com
o audio completo. Algumas cenas que se perderam definitivamente foram
reconstituídas com fotos sobre o audio original. É muito interessante. Mas
sinceramente, o estúdio fez muito bem em cortar o que cortou.
A Star is
Born ficou 22 anos no vinagre até que Barbra Streisand o ressuscitou. O ano era
1976, todo o glamour de Hollywood era coisa do passado e um time de seis
roteiristas liderado por Frank Pierson - que dirige o filme - John Gregory
Dunne e Joan Didion repaginou a história. Se Moss Hart colocou um pé na música,
Frank Pierson colocou os dois e deixou o cinema de lado. Eram recentes as
mortes de artistas como Brian Jones, Hendrix, Joplin e Morrison, e portanto
esta versão é sobre o compositor e guitarrista John Norman Howard (Kris
Kristofferson), líder de uma banda de rock. Saindo de um show, ele vai a um bar
onde Esther está se apresentando com seu trio. John Norman é incomodado por um
fã (curiosamente, o jovem Robert Englund, que mais tarde seria Freddy Krueger
na famosa série de filmes de terror) que começa a discutir com ele a ponto de
atrapalhar o trio. Esther se queixa com John, que se impressiona com ela, lhe
dá uma carona mas ela não cai em sua conversa. No dia seguinte, porém, há uma limusine
para levar Esther ao local onde John está se apresentando. Ele abandona o show
no meio e vai embora com Esther. Ciente de que a moça é cantora e compositora,
ele aproveita um evento beneficente dias depois para dar-lhe a chance de cantar
em frente a uma platéia. E o resultado é conhecido.
 |
| Kristofferson e Streisand |
 |
| Barbra Streisand |
Eu não
desgostei do filme. Apenas não consegui me relacionar com as músicas. Streisand
é boa; quanto à sua voz e a seu repertório, realmente é necessário ser fã.
Enquanto a voz de Garland é um jato grosso e torrencial de lava, a de Streisand
assemelha-se a um oboé estridente. Mais uma vez, pelo menos para mim, as
músicas foram o calcanhar de Aquiles do filme. Esta versão de A Star is Born
recebeu quatro indicações ao Oscar: Direção de Arte, Trilha Sonora, Som e
Canção Original para "Evergreen", que a atriz compôs em parceria com o letrista
Paul Williams. "Evergreen"
levou o Oscar.
Quarenta anos depois, a franquia foi mais uma vez tirada da naftalina: a versão mais recente é um remake do remake de 1976: roqueiro drogado, alcoólatra e deprimido se apaixona por cantora de bar. Direção de Bradley Cooper e roteiro dele, em colaboração com Eric Roth e Will Fetters, baseado em todos os outros. O nome dele agora é Jack e quando sai do show e vai para um bar, é uma boate drag e a cantora é Ally (Lady Gaga), cantando "La vie en Rose" a plenos pulmões. É uma bela cena e o filme em si é agradável. Eu sinceramente não via mais necessidade de ressuscitar a franquia; tal como é exibida, esta é uma versão atualizada, em HD, do filme de 76, sem o charme do casal protagonista. Bradley Cooper está bem mas sua interpretação é monocórdia, Jack está constantemente bêbado e não há diferentes matizes em sua performance. Mas algumas coisas são propositalmente exageradas, como ele mijar nas calças durante o Grammy, ou se enforcar, ao invés do afogamento das primeiras versões, ou o desastre automobilístico de Kristofferson.
Criou-se o papel do irmão Bobby, que seria uma mistura do faz-tudo Bobby Ritchie com o produtor Brian, inserindo-se o drama familiar. Sam Elliott agrada bastante, mostrando inusitada sensibilidade em seu papel eterno de durão. Também foi inventado o papel completamente inútil de Lorenzo, pai de Ally, interpretado por Andrew Dice Clay. Quanto à Lady Gaga - me perdoem os fãs - sua performance é simplesmente razoável. Boa, considerando que não é atriz. Só. Não mereceria jamais uma indicação (das oito que o filme recebeu). As músicas e os números musicais são manjados e não memoráveis. O hype em cima desse filme é excessivo e daninho. Os elogios vieram tão hiperbólicos que o público está começando a sacar que se algum Oscar deve ser dado, é pela campanha de marketing.
levou o Oscar.
Quarenta anos depois, a franquia foi mais uma vez tirada da naftalina: a versão mais recente é um remake do remake de 1976: roqueiro drogado, alcoólatra e deprimido se apaixona por cantora de bar. Direção de Bradley Cooper e roteiro dele, em colaboração com Eric Roth e Will Fetters, baseado em todos os outros. O nome dele agora é Jack e quando sai do show e vai para um bar, é uma boate drag e a cantora é Ally (Lady Gaga), cantando "La vie en Rose" a plenos pulmões. É uma bela cena e o filme em si é agradável. Eu sinceramente não via mais necessidade de ressuscitar a franquia; tal como é exibida, esta é uma versão atualizada, em HD, do filme de 76, sem o charme do casal protagonista. Bradley Cooper está bem mas sua interpretação é monocórdia, Jack está constantemente bêbado e não há diferentes matizes em sua performance. Mas algumas coisas são propositalmente exageradas, como ele mijar nas calças durante o Grammy, ou se enforcar, ao invés do afogamento das primeiras versões, ou o desastre automobilístico de Kristofferson.
 |
| Gaga e Cooper |
Criou-se o papel do irmão Bobby, que seria uma mistura do faz-tudo Bobby Ritchie com o produtor Brian, inserindo-se o drama familiar. Sam Elliott agrada bastante, mostrando inusitada sensibilidade em seu papel eterno de durão. Também foi inventado o papel completamente inútil de Lorenzo, pai de Ally, interpretado por Andrew Dice Clay. Quanto à Lady Gaga - me perdoem os fãs - sua performance é simplesmente razoável. Boa, considerando que não é atriz. Só. Não mereceria jamais uma indicação (das oito que o filme recebeu). As músicas e os números musicais são manjados e não memoráveis. O hype em cima desse filme é excessivo e daninho. Os elogios vieram tão hiperbólicos que o público está começando a sacar que se algum Oscar deve ser dado, é pela campanha de marketing.
BOHEMIAN RHAPSODY
O carnaval de elogios melosos e sentimentalóides, e a confusão entre o amor pelo verdadeiro Freddie Mercury e o MÉRITO efetivo do filme, obnubilaram o critério de julgamento do público e da academia. O filme não é ruim, mas está a anos-luz de ser essa maravilha que vemos na imprensa. Rami Malek está suficientemente parecido com Mercury (embora este fosse mais encorpado) mas creio que erra em mostrá-lo como um enfermo de ânimo, quando ele na verdade era apenas tímido em situações em que se sentia oprimido, como entrevistas. A sensação que fica é de que ele era uma pessoa abúlica e incapaz de rir desbragadamente, ou de se divertir, o que não é verdade.
Bohemian Rhapsody é uma cinebiografia sanitizada, asséptica, que traz o beneplácito da família de Mercury. Fosse uma obra honesta e sem compromissos com o politicamente correto, poderia até manter essa espinha dorsal, mas teria descido à promiscuidade e à devassidão que marcaram a vida de Mercury, em seus períodos de depressão e estagnação artística. O sexo livre, excessivo e desprotegido, as festas desregradas e descontroladas, e tudo aquilo que mais tarde atingiu parte daquela primeira geração que sucumbiu diante da AIDS. Não concordo com muitas das críticas feitas pelo movimento LGBT a filmes com temática gay, mas neste caso sou obrigado a concordar que o filme tentou passar ao largo deste importante traço da personalidade de Mercury. Sem falar que terminar o filme no Live Aid foi bonitinho e seguro. Só podemos lamentar, pois o último capítulo da vida de Freddie foi heróica, primorosa e uma ode ao privilégio de estar vivo.
A odisséia de Mercury ainda terá que ser contada. Bohemian Rhapsody tem a profundidade de um filme da Sessão da Tarde.
ROMA
Direção e roteiro de Alfonso Cuarón. O filme é autobiográfico e o título é referência ao bairro da Cidade do México onde se passa a história. É sobre uma mulher que é abandonada pelo marido com seus quatro filhos, e cuja empregada fica grávida de um sujeito qualquer que não quer assumir o filho. Precisei de dois dias para assistir esta bosta do início ao fim. Na tomada inicial - quase cinco minutos de água sendo jogada no chão e refletindo sei lá o quê, enquanto passam créditos que jamais serão lidos - percebi que o filme seria aquilo que eu já imaginava: uma chatice intolerável, esteticamente curiosa, pretensamente artística e completamente vazia. Aquele filme que todo mundo incensa sem nunca ter visto. Os primeiros vinte minutos são só para mostrar a faxineira Cléo fazendo faxina.
O filme tem literalmente todos os vícios, truques e inutilidades que caracterizam essas “obras-primas” de fancaria que provocam orgasmos nos pseudo-intelectuais, e nada mais são do que lixo perfumado por uma campanha publicitária de milhões de dólares: é em preto e branco (mas poderia ser a cores), tem duas horas e quinze minutos (mas poderia ter uma hora e vinte), tem tomadas estupidamente longas de coisas triviais, uma cena cretina de nudez frontal masculina, um sujeito que canta durante um incêndio, quarenta enquadramentos diferentes para uma cena sem qualquer relevância, referências que ninguém entende a coisas que ninguém quer saber, e assim por diante. Nunca um cineasta se esforçou tanto para impressionar leigos, quanto Cuarón, em Roma. Da próxima vez que for homenagear alguém de sua infância, eu rezo para que seja um curta.
VICE
Direção e roteiro de Adam McKay. O filme é sobre uma das figuras mais nefastas da política norte-americana: Dick Cheney. Um zero à esquerda, bêbado e inútil durante a juventude, ele foi cevado na estufa do governo Nixon tendo como mentor outra figura asquerosa, o ex-secretário de defesa Donald Rumsfeld. Cheney foi vice-presidente de George W. Bush, e como este beirava o retardamento mental, o vice acabou sendo, em muitos casos, o presidente de fato. E como tal foi responsável por algumas das medidas mais perversas e desumanas já tomadas por um governante. Ajudou a disseminar a mentira de que havia armas de destruição em massa no Iraque, sancionou prisões absolutamente ilegais dentro e fora dos Estados Unidos, sancionou torturas em Guantânamo, no Iraque e no Afeganistão, e, como presidente da Halliburton - empresa encarregada da reconstrução desses países - quanto mais estrago se fizesse, melhor.
Mckay adotou uma narrativa leve e jocosa, provavelmente com o fito de suavizar uma história que frequentes vezes beira o grotesco. O expediente funciona mas o filme poderia ser mais sério e mais profundo. Embora Cheney seja uma figura ridícula, o mal que fez à humanidade não deveria ser mitigado pelo humor. O elenco é irregular e isso também atrapalha; Sam Rockwell é um bom ator mas seu George W. é caricato demais e isso dá um ar incômodo de paródia ao filme. Amy Adams está perdida e a maquiagem para envelhecê-la não convence. Nenhum dos dois merece a indicação a Melhor Coadjuvante. Quem mereceria essa indicação e não a recebeu é Steve Carrell, sempre ótimo e muito bom no papel de Rumsfeld. E quanto a Christian Bale, é sobejamente conhecida a sua capacidade de mudar fisicamente, de papel para papel. Neste caso, contudo, fiquei surpreso por esperar mais. O roteiro é raso, então a mudança de Cheney me pareceu mais externa do que interna. Mesmo assim, é um trabalho notável.
Recomendo.
CAN YOU EVER FORGIVE ME?
A escritora Lee Israel chegou a ver um ou outro de seus livros - perfis de grandes artistas (como Kate Hepburn) - na lista de mais vendidos do NY Times, nos anos 70. Antipática e desagradável, ela não dava entrevistas e não sabia promover seus livros, o que acabou atrapalhando-a quando mergulhou, anos depois, em um período de esterilidade criativa. Ela pretendia escrever a biografia de Fanny Brice, antiga atriz de vaudeville, mas sua agente a desencorajou, alegando falta de interesse do público de então (início da década de 90) pela personagem. Desesperada para poder pagar suas contas ela vende uma carta manuscrita que recebera de Hepburn. Em outra ocasião encontra acidentalmente duas cartas de Brice em um livro que consultava em uma biblioteca. Vende a primeira e insere um PS jocoso na segunda, o que lhe aumenta imensamente o valor oferecido. Descobre então que existe um mercado bastante movimentado e lucrativo para esse tipo de memorabilia. Também descobre que adulterar ou mesmo forjar completamente essas cartas é relativamente simples, dada a dificuldade de se verificar a autenticidade delas.
Melissa McCarthy finalmente recebeu um papel à altura de seu talento. Não é mais um papel de gordinha sexy ou a gordinha engraçada e atrapalhada, e sim o papel de uma mulher de 51 anos, alcoólatra, lésbica, feia e sem qualquer atrativo. Lee era a frustração e a infelicidade em pessoa, e McCarthy está perfeita em sua composição. Ela tem cenas que vão do moderadamente engraçado ao dramático, ao trágico e ao patético. E o faz muito bem. Admito que o assunto me fala ao coração e é dolorosa a cena em que a gananciosa e estúpida agente de Lee (a brilhante Jane Curtin) ridiculariza sua pesquisa sobre Fanny Brice. É drama vivido por muitos biógrafos.
 |
| Richard E. Grant e Melissa McCarthy |
Richard E. Grant também está excepcional como o devasso e divertido Jack Hock, comparsa voluntário de Lee. Marielle Heller, a diretora, começou sua carreira como atriz e conseguiu alguma notoriedade dirigindo o filme The Diary of a teenage girl (2015). Desta vez foi bem mais longe: Can You Ever Forgive Me? foi indicado a três Oscars: Melhor Atriz para Melissa McCarthy, Ator Coadjuvante para Richard E. Grant e Roteiro Adaptado para Nicole Holofcener e Jeff Whitty (baseado no livro da própria Lee). Se este não fosse o ano de Glenn Close, eu torceria por Melissa.
Excelente. Recomendo.
AT ETERNITY'S GATE
Em novembro do ano passado, quando escrevi sobre Lust for Life (1956) e Loving Vincent (2017) - os dois mais importantes filmes sobre Van Gogh - não tinha nem idéia de que exatamente na mesma época estava entrando em cartaz, nos Estados Unidos, At Eternity's Gate, também sobre o pintor. O filme tem direção de Julian Schnabel e foi escrito por Jean-Claude Carrière, Louise Kugelberg e o próprio Schnabel. A história começa em Arles, dois anos antes da morte de Van Gogh, quando ele sonhava com a criação de uma espécie de república de artistas e recebe a tumultuada e tumultuosa visita de Gauguin, que acabaria por lhe custar a orelha. Passa-se com celeridade pelo período no hospício de Saint-Rémy e temos o fim em Auvers-sur-Oise.
É um belo trabalho, embora complementar, no sentido de que quem não conhece a vida do pintor, deve começar por Lust for Life, e na seqüência voltar ao filme de Julian Schnabel. O filme é contemplativo, lento (mas não cansativo) e quase sempre em linguagem POV, mostrando o mundo pela visão feérica e desequilibrada de Van Gogh (Willen Dafoe). Os pensamentos do pintor, seus desabafos, suas concepções de vida e suas suspeitas sobre estar perdendo o juízo, certamente constantes de sua correspondência com o irmão, dividem-se em algumas cenas cruciais, como suas conversas com a Madame Ginoux (a linda e sumida Emmanuelle Seigner), com o Dr. Felix Ray (Vladimir Consigny), o padre do hospício (Mads Mikkelsen) e o irmão Théo (Rupert Friend). Já as desavenças entre ele e Gauguin (Oscar Isaac) são menos histéricas e mais mentais, mais psicológicas e trazem alguns dos melhores momentos do filme.
 |
| Dafoe interpreta Van Gogh |
Willen Dafoe está perfeito no papel do pintor. É a última pessoa em quem eu pensaria para interpretar Van Gogh, mas a verdade é que seu rosto magro, escaveirado, marcado pelo tempo, funciona perfeitamente na personificação do pintor, cuja decadência física foi acentuada pelas desgraças sucessivas. Vale ressaltar que o pintor morreu com 37 anos. Dafoe está com 64. E seu trabalho é exemplar. Sua indicação ao Oscar - a quarta - é merecida mas não creio que, na competição, ele vá conseguir derrubar os favoritos, que são Rami Malek e Christian Bale. Essa é a única indicação do filme.
Recomendo.
GREEN BOOK
Um boa incursão de Peter Farrelly pelos filmes sérios. Ele dirige e assina o roteiro, junto a Nick Vallelonga e Brian Currie. História real sobre italiano bronco e racista precisa de dinheiro e aceita ser motorista, segurança e faz-tudo de um renomado e extravagante pianista negro em sua turnê pelos Estados Unidos. No caminho se tornará amigo do pianista e descobrirá como o racismo é odioso. É um filme leve. Sou fã de Viggo Mortensen mas não entendi a sua escolha para um papel tão cheio de clichês italianos como o de Tony Lip. Ele não está natural e seu italianês-nova-iorquino é exagerado demais e parece uma imitação de personagens dos filmes de Coppola e Scorsese. Mahershala Ali está muito bem no papel do dândi e pianista Don Shirlei. Mas não o suficiente para uma indicação. Indicado aos Oscars de Melhor Filme, Melhor Roteiro Original, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Edição.
THE WIFE
Direção do sueco Björn Runge (naquele que parece ser seu primeiro filme internacional, e roteiro de Jane Anderson a partir do livro de Meg Wolitzer.
Filme sobre mulher que se torna ghost writer do marido, levando-o à fama e ao reconhecimento. Ele, ao invés de ser humilde e agradecido, é mimado e infiel. Quando ele é convidado a receber o prêmio Nobel de literatura ela finalmente não consegue mais viver sem o reconhecimento do trabalho de sua vida. Uma produção magra e quadrada do qual se sobressai única e exclusivamente a performance de Glenn Close. E como ela já foi indicada sete vezes e na maioria dessas ocasiões ela perdeu para uma atriz completamente inferior, é possível que a academia pare de uma vez com essa punheta e dê a ela o Oscar que ela merece há quarenta anos. Mas ficará aquele gosto amargo de saber que ela venceu por uma performance simplesmente ok, sem qualquer dificuldade. De uma forma ou de outra, ela merece.
MARY POPPINS RETURNS
 |
| A Mary de Blunt |
Mas o pior foi o que fizeram com Bert, o amado personagem de Van Dike. Eu estava aguardando com lágrimas nos olhos o momento em que se ouviriam os primeiros acordes de Chim chimney chim chim cheree e o agora mais velho e menos ágil, mas igualmente engraçado e adorável Bert entraria cantando. E ao invés disso Van Dike foi jogado no papel sem graça do banqueiro e seu Bert foi substituído pelo insosso Jack, interpretado pelo compositor Lin-Manuel Miranda, que está longe de poder competir com Van Dike. Sim, competir. Porque é ingênuo pensar que quem assiste este reboot não está comparando-o, a cada frame, com a versão de 1964. E Miranda é muito fraco; Blunt se sustenta facilmente pelos números musicais com o charme e a extraordinária beleza; já os números de Miranda são uma tortura.
Enfim, uma decepção.
BlacKkKlansman - Gostei. Há tempos Spike Lee perdeu a capacidade de traduzir artisticamente o seu engajamento. Ao invés de melhorá-lo, a maturidade mostrou que o poço estava seco. BlacKkKlansman redime as duas últimas décadas de Spike Lee. Não que seja extraordinário, mas equilibra com leveza o engajamento, o drama e, principalmente, o humor. Não sei se merecia seis indicações e também não creio que o trabalho de Adam Driver - bom - seja tão notável para que receba uma indicação. Mas no Oscar tudo é possível.
The Ballad of Buster Scruggs - Roteiro e direção dos irmãos Ethan e Joel Coen. O filme contém seis pequenas histórias que se passam no velho oeste. Sei lá... são duas horas e treze minutos... a primeira foi boa... a segunda foi pointless... na terceira ou quarta história eu já estava de saco cheio. Embora eu tenha gostado moderadamente de um ou outro filme deles nos últimos vinte anos, não consigo ver graça nos irmãos Coen. Considero-os insanamente super-estimados.
If Beale Street Could Talk - Muito bom. Barry Jenkins é Spike Lee sem a panfletagem. O filme é baseado no livro de James Baldwin e fala sobre a vida de um rapaz acusado injustamente de estupro, e preso logo depois de seu casamento, deixando a esposa grávida. É um doloroso libelo contra o racismo. Sem ser maniqueísta, há cenas que assustam, revoltam e ensinam. E tudo isso com o trabalho competente do elenco, do qual se sobressai Regina King.
A Quiet Place - Thriller decente dirigido por John Krasinski e valorizadíssimo pela presença de sua esposa Emily Blunt. Monstros atacam quando escutam algum tipo de som, então é necessário estar sempre em silêncio. Pensei que Bird Box já tinha começado a dar cria quando lembrei que BB estreou em novembro e A Quiet Place estreou em março do ano passado. Por outro lado, o livro com a história de Bird Box surgiu em 2014, então talvez o livro tenha inspirado o filme de Krasinski, que inspirou a realização do filme sobre BB. Ou talvez seja tudo uma coincidência. Indicado a Melhor Edição de Som.
Black Panther - Pronto. Um filme de super-herói foi indicado a Melhor Filme. Parabéns.
2X MARY, QUEEN OF SCOTS
 |
| Henrique com Jane Seymour e o filho Edward |
Depois de infernizar a vida de tantas mulheres, Henrique VIII conseguiu o que queria: teve um filho homem, Edward, com sua terceira esposa, Jane Seymour. O destino, porém, se vingou de Henrique; Edward virou rei com nove anos e morreu com quinze, sem ter jamais governado, efetivamente. Após a sua morte, a coroa foi para sua verdadeira dona: Mary, a filha que Henrique teve com sua primeira mulher, Catarina de Aragão. Mas a saúde desse povo era um terror e ela também só reinou por cinco anos, morrendo em 1558, aos 42 anos. Ascende, então, ao trono a filha de Henrique com Ana Bolena, Elizabeth.
 |
| A coroação de Elizabeth I |
 |
| Mary, em "luto branco" |
Sem ser nenhuma obra-prima e, sobretudo, sem ter grandes compromissos com a acuidade histórica, o filme é bom. É história misturada com ficção, como não pode deixar de ser, em se tratando de algo que remonta ao século XVI e vem de fontes mirradas e diretamente antagônicas; Mary era católica em um momento em que tanto a Inglaterra quanto a Escócia abraçavam fanaticamente o protestantismo.
Logo, seus poucos biógrafos se dividem entre calvinistas e huguenotes que a odiavam e a consideravam uma herege monstruosa e desavergonhada, e católicos fervorosos que a admiravam incondicionalmente e escreveram panegíricos sobre sua existência. Mais uma vez, nunca saberemos.
O público caiu de pau sobre o filme por algumas razões específicas: 1) Mary (Saoirse Ronan, boa como sempre mas assustadoramente magra) fala com acentuado sotaque escocês. 2) A diretora achou por bem jogar um osso à patrulha da diversidade e escalou um ator negro (o também sempre competente Adrian Lester) para o papel de Lord Randolph, o emissário de Elizabeth na Escócia, e uma atriz de origem chinesa (Gemma Chan) para o papel da palaciana inglesa Bess Hardwick. 3) Da mesma forma, a diretora decidiu agradar o movimento LGBT inserindo um romance homossexual entre o Lord Darnley (Jack Lowden), segundo marido de Mary, e o músico da côrte e confidente da rainha, David Rizzio (Ismael Cruz Cordova). 4) Por fim, o clímax do filme é um encontro entre Elizabeth (Margot Robbie, competente mas não ideal para o papel) e Mary, no qual elas discutem e lavam a roupa suja. Encontro que nunca aconteceu.
 |
| A Mary de Saoirse Ronan |
No caso das duas outras queixas, entramos em um precedente interessante que o público atual ignora: o filme Mary, Queen of Scots, dirigido por Charles Jarrott com roteiro original de John Hale, lançado no fim de 1971. Foi precisamente a dupla Jarrott/Hale que dois anos antes trouxera Henrique VIII à ordem do dia com o magnífico Anne of the Thousand Days, a partir da peça escrita por Maxwell Anderson. Em 1970 Hale foi convidado pela BBC para escrever o roteiro do primeiro capítulo de Elizabeth R, minissérie sobre a vida da rainha, em seis partes (cada uma com um roteirista e um diretor diferente). A protagonista foi a ótima Glenda Jackson, premiada com um Emmy pelo seu trabalho. O sucesso da série foi tal que Jarott e Hale filmaram nesse mesmo ano de 71 o filme sobre Mary. Glenda foi chamada para reprisar seu papel de Elizabeth e o papel-título foi para Vanessa Redgrave. Os dois filmes são obras autorais independentes mas guardam algumas semelhanças notáveis que nos dão a entender que Josie Rourke e Beau Willimon se inspiraram bastante no trabalho de Jarrott e John Hale.
Não conheço uma única evidência histórica para o homossexualismo de David Rizzio e o Lord Darnley. Pelo contrário; imagina-se que a conspiração para matar Rizzio tenha surgido justamente dos boatos de que ele, como confidente e secretário de Mary, fosse de fato o pai da criança que ela estava esperando. E no entanto essa trama está inteira no filme de Jarrott (não sei se Hale a criou ou se inspirou em algum relato para escrevê-la) e Josie Rourke deu apenas um copy/paste na coisa toda. As cenas que envolvem Rizzio e Darnley são até parecidas com aquelas feitas brilhantemente por Ian Holm (Rizzio) e Timothy Dalton (Danley) no filme de 1971. O mesmo se pode dizer da cena do assassinato de Darnley.
 |
| A Mary de Vanessa Redgrave |
 |
| Glenda Jackson (Elizabeth) e Vanessa (Mary) durante a gravação da cena do encontro das rainhas |
 |
| A Elizabeth de Margot Robbie |
Considero superior o filme de 1971 (indicado a cinco Oscars, incluindo Melhor Atriz para Vanessa; não levou nenhum) mas não sou tão rápido em desmerecer o trabalho de Rourke (indicado por Maquiagem e Figurino) pelas falhas apontadas. Ele merece ser visto.
* Mary Queen of Scots concorre aos prêmios de Melhor Figurino e Melhor Maquiagem.
THE FAVOURITE
Ano prolífico para a Casa de Stuart. Além de Mary Queen of Scots, temos também The Favourite, sobre a rainha Anne (1665/1714), trineta de Mary e a última Stuart. A direção é do grego Yorgos Lanthimos (que ficou conhecido pelo estranhíssimo The Lobster, de 2015) e roteiro de Deborah Davis e Tony McNamara. No filme a rainha (Olivia Colman) é viúva, perdeu a saúde por conta de dezessete gravidezes mal-sucedidas, sofre de violentos ataques de Gota e, sendo uma mulher cretina e ignorante, é dominada pessoal e politicamente por sua amiga e camareira Sarah Churchill (Rachel Weisz), esposa do Lord Marlborough (Mark Gatiss), que na época liderava as forças inglesas na Guerra da Sucessão Espanhola. A intimidade das duas é de cama, mesa banho. Chamam-se por apelidos jocosos, a rainha é Mrs. Morley, Sarah é Mrs. Freeman. Anne não aprecia a intromissão excessiva de Sarah em assuntos políticos, como também se ressente da honestidade brutal e até cruel de sua companheira. Não prescinde de sua amizade e de sua presença na côrte, porém. Isso até que chega à côrte uma prima de Sarah, Abigail Hill (Emma Stone), cujo pai perdera tudo no jogo, levando a família à miséria.
 |
| Rachel Weisz (Sarah) e Olivia Colman (Anne) |
 |
| Olivia (Anne) e Emma Stone (Abigail) |
 |
| A rainha Anne |
 |
| Sarah Churchill |
 |
| Abigail Hill |
 |
| Rachel Weisz, Olivia Colman e Emma Stone |
EFEITOS ESPECIAIS
2x CHRISTOPHER ROBIN
Não fazia idéia de quem era Christopher Robin, personagem-título do filme de Marc Foster, indicado ao Oscar de Efeitos Especiais. E na busca pelo filme acabei trombando em uma produção de 2017 chamada Goodbye, Christopher Robin. A presença de Margot Robbie me chamou a atenção e resolvi assisti-lo também. E valeu a pena, porque são produções inteiramente diferentes. Para quem (como eu) não sabe, Christopher Robin é a criança que faz parte da turma de Winnie-the-Pooh (o Ursinho Puff), personagens criados pelo inglês A. A. Milne. O escritor se inspirou no próprio filho, Cristopher, para criar o personagem.
A idéia da criança que interage com animais, seres imaginários ou sobrenaturais, e perde essa capacidade quando se torna adulta, não é exatamente nova, mas Christopher Robin - como bem observou a seção de Trivia do IMDB - é, em tudo e por tudo, um reboot de Hook (1991), dirigido por Spielberg, sobre o Peter Pan que cresceu, casou, perdeu sua capacidade de sonhar e se divertir, ignora a esposa e o filho e de repente aparece um personagem da sua infância que o leva de volta ao mundo do faz-de-conta que o obriga a rever seus conceitos e a valorizar aquilo que realmente importa na vida. No filme em questão, Christopher (Ewan McGregor) cresceu, lutou na segunda guerra, voltou, se casou com Evelyn (Hayley Atwell), tem uma filha, Madeline (Bronte Carmichael), e trabalha de sol a sol em uma empresa que produz malas e maletas de couro.
 |
| Pooh e Ewan |
Já Goodbye, Christopher Robin, dirigido por Simon Curtis é a história real da relação entre o autor Alan Alexander Milne (Domhnall Gleeson), sua esposa Daphne (Margot Robbie) e o filho de ambos, Christopher Robin (Will Tilston, possivelmente o menino mais fofo que já vi em toda a minha vida). O escritor era veterano da primeira guerra e os traumas o levam a deixar a atribulada e barulhenta Londres por uma casa de campo em Sussex, onde pretendia utilizar a tranqüilidade e o tempo livre para escrever um livro que condenasse a guerra e incentivasse a paz. A mudança provoca um estresse em seu casamento, já que a esposa tem fumaças de nova-rica, adora uma festa e, afinal de contas, aqueles eram os "crazy twenties". Ela abandona o marido e o filho temporariamente com a babá (Kelly Macdonald) que mora com eles e sem querer acaba criando algo que não existia: uma aproximação entre pai e filho. Eles passam juntos o tempo todo, andando, brincando, e Milne começa a divisar a possibilidade de transformar as brincadeiras do filho com seus animais de pelúcia, em meio á natureza, em histórias infantis. E assim nasce Winnie-the-Pooh.
 |
| Domhnall Gleeson (Alan Milne), Will Tilston (Christopher Robin) e Pooh |
O extraordinário sucesso financeiro dos livros de contos com Winnie e Christopher Robin traz Daphne de volta, como por milagre, e o garoto se torna uma celebridade. Mas tanto Milne - preocupado com a criação de novos contos - quanto Daphne - preocupada que o dinheiro continue entrando, torrencial - esquecem daquilo que é mais importante: Christopher tem apenas oito anos, é uma criança que precisa dos pais, e só quem realmente pensa em seu bem estar é a babá Olive. E a partir daí veremos as sérias conseqüências que a associação de seu verdadeiro nome com o do personagem mais famoso da Inglaterra, naquele momento, trarão ao jovem Christopher.
 |
| Alan Milne, Christopher e Pooh |
Recomendo os dois, mas sugiro que Goodbye, Christopher Robin (2017) seja visto primeiro.
FIRST MAN
A julgar pelo filme e pela interpretação preguiçosa de Ryan Gosling, Neil era um homem chato, abúlico e traumatizado pela morte da filha. O contrário de Buzz Aldrin (Corey Stoll), bem-humorado ao extremo, tocando as raias da inconveniência. Buzz, por sinal (que está vivo, com 88 anos), é mostrado como um reles ambicioso que pouco se importava com a morte de seus colegas e só estava aguardando a sua vez de participar nas missões espaciais. Se é uma análise justa, não faço idéia.
O filme é bom, historia com inteligência os eventos que desembocaram na Apollo 11 mas a meu ver é extremamente mais longo do que seria necessário. E Ryan Gosling também nunca me convenceu e ainda passará muito tempo até que eu compreenda o porquê de alguém tão limitado estar no "A List" de Hollywood.
 |
| Claire Foy |
Pelo lado positivo, Claire Foy está estupenda como Jan, a esposa de Neil. Não conhecia essa atriz porque nunca assisti The Crown, mas fiquei prazerosamente surpreso com sua performance. O filme deve receber indicações ao Oscar; espero que uma seja para Claire.
Recomendo.
Ready Player One - Muito bom. Num mar de tecnologia vazia e de franquias de microondas, Spielberg volta em grande forma, num de seus melhores filmes dos últimos anos, e ensina a fazer cinema e entretenimento. O roteiro é de Zak Penn e Ernest Cline, baseado no livro de Ernest. História dinâmica, divertida e emocionante, e um elenco acima da média liderado pela maravilhosa Olivia Cooke. Recomendo.
Avengers: Infinity War - Bom. Nem sei mais qual é um e qual é outro, mas bom.
Solo: a Star Wars Story - Não vi e não verei. Acho que ninguém viu.
ANIMAÇÃO
Mirai no Mirai - É a história do menino Kun, cujos pais acabaram de ter uma filha - Mirai - e devotam a ela toda sua atenção. Isso causa crises enormes de ciúme no garoto, que a cada ataque histérico é transportado para o mundo de sua imaginação, onde não há barreiras de espaço e tempo. Lá ele vai interagir com a Mirai do futuro, já adolesente, com seu avô na juventude, com a personificação humana de seu cachorro, com sua mãe quando era criança, e assim por diante. E a cada um desses contatos ele vai aprendendo a lidar com as inevitabilidades da vida. Já assisti algumas coisas de Mamoru Hosoda (conhecido inicialmente por ter dirigido a adaptação televisiva do célebre mangá "Samurai Champloo"); gostei particularmente de Ookami kodomo no Ame to Yuki ("Crianças Lobo") mas não se pode dizer que sou fã dele. A simples verdade é que Miyasaki aumentou de tal forma a qualidade desses desenhos, que não é qualquer coisa que me impressiona, hoje em dia. Mirai é bom mas me cansou um pouco. E o personagem Kun está longe de ter a graça e o carisma das meninas criadas pelo Ghibli. Mas vale conferir.
Isle of Dogs - Quando estoura uma epidemia de gripe canina na cidade de Megasaki, o governante (que ama gatos e odeia cães) manda matar um médico que descobre a cura para a doença e passa uma lei que obriga todos os cães infectados a serem enviados para uma ilha, onde eventualmente morrerão de fome. Só que uma das crianças que ficou sem seu cachorro resolve ir até a ilha resgatá-lo. Pelo lado positivo, trata-se de um filme visualmente interessante, considerando que não se trata de CGI e sim de stop-motion. É só o que tenho a dizer de bom. E pelo lado ruim, não consigo ver graça em cães falando articuladamente, com vozes humanas. Me parece uma subversão horrorosa da natureza divina dos cães, que é divina justamente porque está distante da natureza humana, sobretudo dos adultos. Então ouvir um cachorro com a voz de Edward Norton dizendo “I miss my master” é no mínimo estranho. Isle of Dogs não me emocionou, não me fez rir e não me causou nada.
Spider-Man: Into the Spider-Verse - Empresário se sente responsável pela morte da mulher e do filho e constrói um colisor de hádrons para tentar encontrá-los ainda vivos em outras dimensões. Só que a utilização equivocada do colisor abre um portal que mistura as dimensões e acaba reunindo cinco pessoas (incluindo um porquinho) que foram mordidas por aranhas radioativas e tem diferentes super poderes. Eles se unem para destruir o colisor e retornar a suas dimensões. É uma bela animação e teria sido melhor ainda se tivesse sido feita em formato de filme. Gostei. Acho que a nota 8.6 do IMDB é ridiculamente alta e evidentemente não merecida, mas gostei. E isso é muito, se levarmos em conta o quanto eu já estou de saco cheio de filmes de super herói.
Incredibles 2 e Ralph Breaks the Internet - Tecnicamente impecáveis. E completamente esquecíveis.